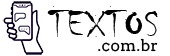Leonor de Mendonça
PRÓLOGO
Contentar a todos ninguém o alcançou, muitos se contentaram com aprazer a muitos. O autor tomará por grande honra satisfazer a poucos.
Prol. da Com. de Bristo.
Idéias e fatos há que diariamente nos passam por diante dos olhos sem que nunca atentemos neles; nós os reputamos coisa corrente e sabida por todos, que por vulgar não nos pode parecer sublime. Mas sobre essa idéia ou fato, que em a nossa memória entesouramos como substância de flores em favo de abelhas, a reflexão trabalha sem descanso, desbasta-o, e tanto se exercita sobre ele, que depois estranhamos de o ver brilhante, belo e muito outro do que a princípio se nos antolhara.
Parece-nos de então que o devemos pesar e meditar com a nossa inteligência, e ver depois as cores que nele mais sobressaem, e as roupagens que melhor se ajeitam às suas formas. A imaginação se incumbe deste trabalho, e desde esse instante está criada a obra artística ou literária: — edifício ou sinfonia; estátua ou pintura; romance, ode, drama ou poema; boa ou má; perfeita ou imperfeita —, o fato é que ela existe. Seja embora feia e falta de proporções, será como uma criatura imperfeita, como um aborto monstruoso, como uma anomalia mas existirá sempre.
Há, porém, entre a obra delineada e a obra já feita, um vasto abismo que os críticos não podem ver, e que os mesmos autores dificilmente podem sondar:
há entre elas a distância que vai do ar a um sólido, do espírito à matéria. A
imaginação tem cores que se não desenham; a alma tem sentimentos que se não exprimem; o coração tem dores superiores a toda a expressão. É por isto que aos homens de imaginação, que não são autores, pode facilmente parecer que eles comporiam melhor tal obra do que tal mestre, que desenvolveriam tal assunto ou que pintariam tal paixão melhor do que os outros, aliás grandes, o têm feito.
E é a razão por que eles comparam o fogo do seu coração, a viveza da sua imaginação, a profundeza do seu sentimento (essências d’alma) com as expressões de um autor, com palavras que, por escolhidas e delicadas que sejam, têm sempre um — quê — de material. É ainda por isto que eu, inimigo de quanto é ou me parece prólogo, nem só os escrevo, como também os leio com prazer, quando eles são feitos, não com o fim inútil de encarecer o merecimento de uma obra que já pertence à crítica e ao público, mas para que o autor nos revele qual foi o seu pensamento, qual a sua intenção, o que pertence exclusivamente ao autor e à arte: ao autor, para que o público se não deixe dominar por juízes ou mal-entendidos ou malintencionados; à arte, para que os principiantes em tal carreira não desacoroçoem com os seus ensaios, sem dúvida imperfeitos, e não dêem de mão às belas-letras pela desproporção que de necessidade acharão entre o seu pensamento e a sua expressão.
Direi pois, não o que fiz, mas o que prometi fazer.
A ação do drama é a morte de Leonor de Mendonça por seu marido:
dizem os escritores do tempo que d. Jaime, induzido por falsas aparências, matou sua mulher; dizem-no, porém, de tal maneira, que facilmente podemos conjecturar que não foram tão falsas as aparências como eles no-las indicam. O
autor podia então escolher a verdade moral ou a verdade histórica — Leonor de Mendonça culpada e condenada, ou Leonor de Mendonça inocente e assassinada —. Certo que a primeira oferecia mais interesse para a cena e mais moral para o drama; a paixão deveria então ser forte, tempestuosa e frenética, porque fora do dever não há limite nas ações dos homens: haveria cansaço e abatimento no amor e reações violentas para o crime, haveria uma luta tenaz e contínua entre os sentimentos da mulher e os da esposa entre a mãe e a amante, entre o dever e a paixão: no fim estaria o remorso e o castigo, e neles a moral.
Há nisto matéria para mais de um bom drama.
Leonor de Mendonça, inocente e castigada, será infeliz, desesperada ou resignada. Ora, o remorso é mais instrutivo do que o desespero e do que a resignação, como o crime é mais dramático do que a virtude: pena é que assim seja, mas assim é. Se em prova disto me fosse preciso trazer algum exemplo, eu citaria o Faliero de Byron e o Faliero de Delavigne.
Por que então segui o pior? É porque tenho para mim que toda a obra artística ou literária deve conter um pensamento severo: debaixo das flores da poesia deve esconder-se uma verdade incisiva e áspera, como diz Victor Hugo — em cada mulher formosa há sempre um esqueleto.
Foi este o pensamento — a fatalidade. Não aquela fatalidade implacável que perseguiu a família dos Atridas, nem aquela outra cega e terrível que Werner descreve no seu drama “Vinte e Quatro de Fevereiro”. É a fatalidade cá da terra a que eu quis descrever, aquela fatalidade que nada tem de Deus e tudo dos homens, que é filha das circunstâncias e que dimana toda dos nossos hábitos e da nossa civilização; aquela fatalidade, enfim, que faz com que um homem pratique tal crime porque vive em tal tempo, nestas ou naquelas circunstâncias.
Repito: não analiso o que fiz, digo apenas o que era meu desejo fazer.
Leonor de Mendonça não tem nem um só crime, nem um só vício; tem só defeitos. D. Jaime não tem nem crimes nem vícios; tem também, e somente, defeitos. Os defeitos da duquesa são filhos da virtude; os do duque são filhos da desgraça: a virtude que é santa, a desgraça que é veneranda. Ora, como o que liga os homens entre si não é, em geral, nem o exercício nem o sentimento da virtude, mas sim a correlação dos defeitos, a duquesa e o duque não se poderiam amar porque eram os seus defeitos de diferente natureza. Quando algum dia a luta se travasse entre ambos, o mais forte espedaçaria o mais fraco; e assim foi.
Há aí também outro pensamento sobre que tanto se tem falado e nada feito, e vem a ser a eterna sujeição das mulheres, o eterno domínio dos homens.
Se não obrigassem d. Jaime a casar contra a sua vontade, não haveria o casamento, nem a luta, nem o crime. Aqui está a fatalidade, que é filha dos nossos hábitos. Se a mulher não fosse escrava, como é de fato, d. Jaime não mataria sua mulher. Houve nessa morte a fatalidade, filha da civilização que foi e que ainda é hoje.
Isto quanto ao principal da ação. Desenhei como pude uns caracteres, outros deixei quase acabados, outros apenas esboçados.
Há três velhos, ou que pensam como tais: é o duque, o velho Alcoforado e Fernão Velho.
O duque é nobre e desgraçado; da nobreza tem o orgulho, da desgraça a desconfiança, e do tempo a vida e a superstição. O duque é cioso, e, notável coisa! é cioso não porque ama, mas porque é nobre. É esta a diferença que há entre Otelo e d. Jaime. Otelo é cioso porque ama, d. Jaime porque tem orgulho.
Ambos são crédulos e violentos, mas a credulidade de Otelo forma-se e caminha a passos lentos, porque o seu amor duvida; a sua violência, relevem-me a expressão, é vagarosa e caminha com a terrível majestade das lavas de um vulcão. O duque crê quanto basta ao bom senso de qualquer homem, e a sua violência é precipitada, porque ele não interessa com a inocência de sua esposa.
Otelo mata a Desdêmona, mas chora antes de a matar e depois de a ter morto; o duque mata a Leonor de Mendonça, mas sem lágrimas, porque o orgulho não as tem.
Se me é permitido continuar com o drama além dos seus termos naturais, vejamos o que fazem estes dois homens depois de assassinadas suas mulheres. Otelo mata-se; e d. Jaime, convencido da inocência da sua por tantos e tão grandes milagres que testemunharam o seu martírio, irá batalhar contra infiéis em expiação do seu crime, e voltará purificado para de novo casar-se. Assim, pois, quando o primeiro acaba a vida, é que o segundo principia a viver.
O duque é severo porque é insensível; o velho Alcoforado é também severo, mas ama. O primeiro é severo como nobre e como senhor; quando ele fala, manda, quando ele pede, manda ainda; é-lhe precisa a obediência, porque não sabe pedir; ele a exige, porque não sabe mandar. Como, porém, é ao mesmo tempo urbano e cortesão, a duquesa tem de se mostrar livre e senhora da sua vontade, o que torna incomportável a escravidão. O velho Alcoforado é severo como pai e como homem; é condescendente, porque ama; é feliz, porque é condescendente. Embalado pela voz de seus filhos, ele caminha lentamente para o sepulcro, e a sua modesta habitação respira amor e suavidade. Há realmente contraste entre o duque poderoso e o modesto pai de família, entre o palácio suntuoso e a habitação singela: o que há de mais naquele falta nesta, o que nesta é necessário, falta naquele. O velho não quer senão viver e morrer entre os seus filhos, e o duque foge com prazer do seu palácio para viver uma semana na sua ermida do convento do Bosque, ou com os seus capelães da serra de Ossa.
Assim é com razão, porque o velho tem para si que melhor que a sua vida só a bem-aventurança, enquanto que para o duque fora verdadeira bem-aventurança viver a vida tranqüila do velho.
Fernão Velho é também severo e também insensível, porém, não é como o duque nem como o velho Alcoforado. É um doméstico que não sente nem vive senão por outro e para outro. Ele ama sobretudo a seu amo, desvela-se no seu serviço, compraz-se com tudo que lhe diz respeito, alegra-se quando o vê alegre, e sofre quando ele sofre.
Antônio Alcoforado é o que ele devia ser na sua idade, corajoso e dedicado; dedicado, por que a benevolência da duquesa em favor dele se convertesse em gratidão; corajoso, para ter o direito de morrer sem defender-se, para que pudesse suplicar sem baixeza, mas antes nunca maior nem mais nobre do que quando curvado pedisse justiça para a mulher que não pudesse defender, e piedade para a que não pudesse salvar. Com aquela idéia, com aquela ação, com estes e outros caracteres quis eu construir assim o drama.
No primeiro plano, o duque, a duquesa e Alcoforado. Alcoforado dedicado e extremoso, a duquesa agradecida e imprudente, e entre ambos o duque sombrio e desconfiado. Entre a duquesa e Alcoforado correr uma cadeia de benevolência e de serviços, de extremos e de gratidão, fazer cair o duque sobre ambos espedaçando a cadeia com a sua força, arrojando a cabeça do homem aos pés dos seus lacaios, e empolgando a mulher como uma presa para nela cevar a sua vingança.
No segundo plano, Paula e Fernão Velho, ambos domésticos, e como tais revelando cada um a índole do seu amo. Paula boa e dócil, porque a duquesa é afável e benévola; Fernão áspero e rude, porque o duque é orgulhoso e inflexível.
Ao longe, aquela boa família dos Alcoforados. O velho robusto e válido, a filha amorosa e cândida, e o filho dotado de boa índole, mas ainda sem caráter, porque o tempo e as circunstâncias é que o hão de formar.
Prender a todos uns aos outros com o amor ou com a obediência, ligá-los estreitamente entre si, juntá-los, conglobá-los, impelir uns sobre outros, e fazer brotar a dor e a poesia do choque de todas essas almas, e do choque das paixões o drama.
Cabe à crítica avaliar até que ponto realizei a minha idéia.
Por último, direi algumas palavras sobre a arte. No começo do teatro moderno havia apenas duas obras possíveis: a tragédia, que cobria as suas espáduas com manto de púrpura, e a comédia que pisava o palco cênico com os seus sapatos burgueses; era assim, porque a tragédia andava pelos grandes, enquanto que a comédia se entretinha com os pequenos, e ainda assim com o que nestes havia de mais cômico e risível. Hoje, a comédia e a tragédia fundiram-se numa só criação. E de feito, se atentamente examinarmos as produções de hoje, que chamamos dramas, notaremos que ainda nas mais líricas e majestosas há de vez em quando certa quebra de gravidade, sem a qual não há tragédia. Notaremos também que essa quebra provém de ordinário de uma cena da vida doméstica, o que verdadeiramente pertence à comédia. Aquela cena, por exemplo, do segundo ato de “Lucrécia Bórgia”, entre Lucrécia e o duque de Ferrara, é um bosquejo da vida íntima, é um fato que, mais ou menos modificado, tem lugar em toda a parte no conchego familiar; é uma cena que pertence à comédia, porque não é da sua essência fazer rir. Descreva ela fielmente os costumes, e a arte ficará satisfeita.
Assim, pois, o drama resume a comédia e a tragédia. Ora, se a tragédia se não pode conceber sem verso, assim também a comédia sem prosa não pode existir perfeita. Para prova disto basta que reflitamos que o melhor autor cômico do mundo, o célebre Molière, foi o primeiro que, não sem dificuldade, introduziu a prosa no teatro francês. Antes dele, até os bons burgueses se envergonhavam de falar a linguagem do povo e a dos sábios. Patearam-no, creio eu, bem que Racine seguiu o seu exemplo. Porém, primeiro que estes excelentes dramaturgos, outro que ainda não foi excedido em arrojo e sublimidade, o afamado Shakespeare, que inventou o drama descrevendo fielmente a vida, já havia achado a verdadeira linguagem da comédia usando nela da prosa. Nos seus dramas ou crônicas foi Shakespeare conseqüente consigo, usou simultaneamente da prosa e do verso, porque simultaneamente criava em ambos os gêneros. Nós por que o não havemos de imitar? Quando ele quer exprimir uma coisa vulgar ou uma chocarrice, usa da prosa; quando quer exprimir um sentimento nobre ou uma exaltação do espírito, usa do verso, e não só do verso heróico como de todos os mais da língua inglesa: foi o estilo espanhol, como também o que praticou Metastasio na Itália, e Gil Vicente em Portugal. Por que não faremos nós assim? Por que havemos de dizer em verso coisas vulgares, e em prosa coisas que só em versos podem ser bem ditas? Bem é que haja harmonia entre a expressão e o pensamento, que a poesia do espírito seja interpretada pela poesia das palavras, e que o prosaico da vida seja dito em linguagem prosaica.
Suponhamos que Shakespeare apresentava em cena uma daquelas personagens que ele se comprazia em enfeitar com todas as flores do seu gênio, Hamlet, Lear, Otelo ou Macbeth. Se no meio de um daqueles seus monólogos, em que a beleza do verso rivaliza com a sublimidade do pensamento, lhe fosse preciso apresentar também um importuno, um servo, por exemplo, que viesse chamar seu senhor para a mesa, com certeza que ele não poria versos na boca do vilão, nem se cansaria em imaginar uma perífrase para dizer em versos: “O
jantar está posto”. Ele diria isto como vulgarmente se diz, como todos os dias o ouvimos, sem adorno mal cabido e sem majestade farçada. O prosaico da vida afugentaria a poesia do pensamento, e por conseqüência o verso. O seu protagonista responderia com despeito, mas em prosa corrente e chã “não quero” ou coisa semelhante; e em tais circunstâncias e depois de um trecho de poesia sublime, um vai-te seco e simples é mais natural e me parece melhor e mais belo do que o mais estudado endecassílabo bocagiano.
Façamos esta inovação enquanto não temos de lutar com prejuízos de uma escola, e enquanto não seguimos um sistema por hábito.
Não se diga que haveria dissonância no uso simultâneo da prosa e do verso; tal não é, porque a prosa do Sr. Herculano é verso, e o verso do Sr. Garret parece prosa. O primeiro mostra-nos a sua força em toda a sua plenitude; no mesmo tempo em que admiramos a energia da frase, o som das palavras vai de per si reboando nos ouvidos como se fora o eco de uma tempestade. No segundo há tanta graça, tanta singeleza, tão prodigiosa facilidade de movimentos que nós conjeturamos maravilhados a força incrível que ele parece adrede ocultar. Perdoem-me a comparação, que não sei se é minha: é o cisne que pode ser águia, e que mostra que o é, mas que, satisfeito de nos encantar com a sua graça menospreza a força com que ele poderia remontar-se às nuvens para empolgar os raios do Sol. A prosa de Bernardim Ribeiro casar-se-ia maravilhosamente com os versos do Sr. Garret, como os versos de Bocage com a prosa do Sr. Herculano.
A dificuldade não é invencível, porque a distância não é tão grande como parece.
Eu o repito: inovemos neste ponto. Se eu o não tentei, é certo ao menos que era essa a minha intenção quando imaginei este drama, tal qual é. Aquela desbotada imitação de Corneille, aquelas palavras que diz Alcoforado antes de receber a fita de que a duquesa lhe faz mimo, seria o estreamento da tentativa e continuaria com ela pelo decurso do drama. Quando, no quarto quadro, a duquesa começa a exaltar-se com o som das suas próprias palavras, fazendo subir de ponto a impaciência do duque, a cólera deste, instigado pela demora, devia trovejar-lhe nos lábios em versos robustos, e o espectador compreenderia otimamente a razão da súbita mudança. Daqui até ao fim do quadro continuaria sempre a poesia. A voz de Alcoforado suplicando a vida da duquesa seria como uma harpa em uma orquestra, a voz da duquesa como um acorde mavioso, e a voz do duque e dos da sua comitiva como um acompanhamento fúnebre e pavoroso. Não sei o que diga; mas está me parecendo que, se quando a platéia esperasse ansiosa o desfecho de uma cena, de um ato ou do drama, mudassem os atores repentinamente de linguagem, e trovejasse ao mesmo tempo o verso nos lábios dos atores e a música em todos os instrumentos da orquestra, haveria na platéia tal fascinação que devia esmorecer por fim num bater prolongado de bravos. Mas não é da música que tratamos agora.
Talvez queira alguém saber o motivo por que não pratiquei aquilo mesmo que agora aconselho, e que digo ser conveniente fazer-se. Di-lo-ei francamente.
Não o fiz, porque, quanto a mim, toda a inovação deve ser intentada por alguém que já tenha um nome e simpatias que com mais ou menos probabilidade lhe garantam o sucesso. Neste caso, a malogração é de péssimos resultados, não tanto para o autor, como para a arte; o público toma para si uma opinião bem ou mal fundada, os mais altos temem arrostá-la, e haverá no progresso da arte retardamento de um século ou de mais, até que de todo se apague a idéia da malogração ou do ridículo, e que outros homens estejam dispostos a receber idéias já rejeitadas por seus antepassados.
Foi esta a causa; porém, outra há que eu não sei se faço mal em dizer.
O drama é feito para ser representado, e entre nós só podem ser representados os que forem aprovados pela censura competente; de maneira que o nosso Conservatório Dramático na Corte, e um delegado ou subdelegado de polícia nas províncias, tem um veto onipotente contra o qual não há recurso, ou eu não o conheço. Quem nos dirá que na primeira folha do malfadado manuscrito não gravaria o Conservatório Dramático o seu veto? O veto é tanto mais fácil de ser exarado, que a lei não exige o porquê, tanto mais fácil que dele não há recurso senão para ele, e ainda tanto mais fácil que dele ou ele se aplica a produções estrangeiras, e o autor não pode ou não quer advogar a sua causa, ou a nacionais, e estes temem quebrar a sua carreira; temor infundado, bem se vê, pois que o Conservatório é superior a estas ninharias; mas enfim é temor, e contra ele não sei que haja medicina. A culpa quem a tem não é o Conservatório Dramático, folgo de o poder dizer com verdade; o Conservatório tem homens de conhecimentos, de consciência e de engenho, homens que são a flor da nossa literatura e os mestres do nosso teatro. Mal me estaria a mim, autor efêmero e desconhecido, querer levar mão de um só dos seus louros, que eu sei de quanto desinteresse carece, de quanta força de vontade, de que impulsão irresistível do gênio ou do fado, quem quer que entre nós se abalança a colhê-los no meio do indiferentismo da nossa gente e do sorriso quase mofador, quase compassivo dos que os não deviam desconhecer. Mas digo que esses literatos e dramaturgos não podem ser úteis ali, porque executam fielmente a lei, que é um regulamento policial em vez de ser uma medida puramente literária. Digo que até os folhetins que se publicam no Jornal do Commercio, sob o título — Semana Lírica —, são em tudo de mais efeito e utilidade do que as censuras do Conservatório, mesmo quando a Minerva lhes dava tal ou qual publicidade. Quem tem a culpa é a lei; e tanto mais culpada é ela, que, se meia dúzia de mancebos, de seu moto próprio, se reunissem para o mesmo fim, a sua pequena associação seria necessariamente mais vantajosa às letras do que o instituto do Conservatório. Sem autoridade legal, os decretos dessa reunião ou associação, para que fossem de alguma importância, deveriam ser fundados na boa razão, na justiça e na imparcialidade. A sua crítica diária, hebdomadária ou mensal, publicada pela imprensa, chegaria ao conhecimento de todos, e, suscitando polêmica, serviria para iniciar o público nos segredos da arte, para formar-lhe o gosto, quando o não tivesse formado, e avigorar-lhe a opinião já criada, quando fosse a boa.
Seria enfim uma instituição criadora em vez de não ser nem conservadora, frutífera em vez de ser estéril, e auxiliadora em vez de ser repressiva. O
engenho não quer peias; é esta uma verdade já hoje tão vulgarizada, que não carece de demonstração. Bem é que de uma vez nos convençamos que deve de haver liberdade de pensamento, não só para o jornalismo, mas principalmente para a literatura, que não é de razão nem de justiça poder o ínfimo dos mecânicos encarnar o seu pensamento nas suas obras, e que só ao poeta dramático não se permita deixar-se arrebatar livremente pela inspiração, mas antes seja constrangido, além de lutar com os nossos preconceitos, a meditar e a pesar a sua frase para que algum Argos vigilante não descubra nela longes de feições que ele não conhece, ou ressaibo de opiniões que não são dele. A liberdade de pensamento no drama não é como nós a entendemos, a só faculdade de o criar, mas também a de o publicar; e a sua primeira publicação é a récita. Se o drama não for representado, será bom como obra literária, mas nunca como drama. Se o drama não pode ser representado, mas o promotor consente que ele corra livremente impresso, dizem alguns que fica salva a liberdade do pensamento, e eu entendo que ela é muito mal-entendida.
Não digo que favoreçamos a literatura, digo somente que lhe não devemos pôr mais tropeços do que os que ela em si já tem.
Encanar na sua nascença um rio que, indigente de águas, mal pode com elas lavar seu leito, é trabalho de nenhum merecimento; porém se ele no fim da carreira engrossa e precipita a corrente, e sobrepujando as ribanceiras, alaga as margens e inunda largamente os campos, em tão boa hora que o encanem, mas não lhe ponham diques, que fora inútil além de perigoso.
Quando pois a lei for revogada, como eu creio e espero, poderá qualquer autor compor um drama neste sentido, com a certeza de que a experiência será inteira e o resultado decisivo. Será outro, que não eu. Apareço um dia no mundo literário, e brevemente lhe direi o meu último adeus. Vencedor ou vencido, não me tornarão a ver sobre a arena combatendo em favor das artes, e sendo por amor delas o primeiro a aplaudir e a exaltar os meus competidores.
GONÇALVES DIAS
Setembro de 1846. PERSONAGENS
D. JAIME, duque de Bragança.
LEONOR DE MENDONÇA, duquesa de Bragança.
AFONSO PIRES ALCOFORADO, o velho.
MANOEL, ANTONIO, } seus filhos LAURA,
FERNÃO VELHO, vedor do duque.
PAULA, camarista da duquesa.
LOPO GARCIA, capelão do duque.
UM SERVO.
UM PRETO.
HOMENS DE ARMAS, PAJENS E CRIADOS.
A ação passa-se em Vila Viçosa, a 2 de novembro de 1512. ATO PRIMEIRO
QUADRO PRIMEIRO
A cena representa uma sala com um toucador, portas laterais, porta no fundo, um banco e mesa com bancais de damasco, algumas cadeiras de espaldar; decoração da época.
CENA I
PAULA (Só, acabando de compor a mesa.) — O que se havia de meter em cabeça àquele pobre Alcoforado! E escolher-me a mim, logo a mim para sua confidente! Mas enfim ele é tão novo, que não era de razão que eu o deixasse morrer assim sem mais nem menos. Que doido aquele!... Foi logo oferecer oferendas e romarias àquela santa que por certo lhas não há-de aceitar; porém, que se me dá a mim que ele gaste cera com maus defuntos em vez de a mandar benzer para se guardar dos trovões!
CENA II
PAULA, a DUQUESA
PAULA — Jesus! Sois vós, senhora duquesa!
A DUQUESA (Sorrindo-se.) — De que te admiras?
PAULA — Tão cedo! Apenas o Sol acaba de nascer; acaso estais doente?
A DUQUESA — Não pude dormir; assim me acontece sempre em terras pequenas. Não tenho em que empregar os serões, deito-me cedo, e passo a noite a revolver-me no leito.
PAULA — Como estais pálida! Realmente é-nos preciso ir para a corte quanto antes; que se passais muitas noites como esta, não vos asseguro a vida por um ceitil.
A DUQUESA — Dizes bem; porém enquanto por cá andamos, não te esqueças de me toucar. PAULA — Sim, toucar-vos agora para terdes ao meio-dia um toucado desfeito e sem graça.
A DUQUESA — Compô-lo-ás de novo. Custa muito? (Paula começa a toucá-la.) Já hoje viste o senhor duque?
PAULA — Ah! o senhor duque! Está outro como vós! Esta manhã, ainda o Sol não era nascido, senti um tropel à porta do palácio; cheguei-me à janela, e vi dois cavalos arreados e prontos; pouco depois saiu o senhor duque, cavalgou de um salto o primeiro que encontrou, e quando Fernão Velho, o vedor, acabava de cavalgar o segundo, já ele se tinha sumido lá, bem longe, como quem vai caminho da tapada.
A DUQUESA — Pobre homem!
PAULA — Pobre! Bem terrível que é ele.
A DUQUESA — Terrível por quê? Não sabes tu que o duque tem alma grande e coração generoso?
PAULA — Generoso e grande quanto quiserdes; o que todavia não obsta a que eu em sentindo os seus passos me não deseje a cinqüenta braças pela terra dentro, ou a cinqüenta léguas distante dele.
A DUQUESA — Deveras antes compadecer-te do muito que ele há sofrido! Crês tu que a sua tristeza sombria e inexpugnável cifre-se toda nas rugas que lhe vês sulcar o rosto? Não... mais funda é a sua raiz, tu a encontrarás no seu pensamento e nas recordações dolorosíssimas que o esmagam.
PAULA — Vão lá ter compaixão de um homem que amedronta a gente!... Apesar de me repetir a mim mesma quanto me dizeis, senhora duquesa, não posso acabar comigo de... antipatizar com ele.
A DUQUESA (Severa.) — Falas de meu marido?
PAULA — Jesus! Eu bem sei que ele é vosso marido; porém, devo eu por isso faltar à verdade... Meu Deus? Parece que nunca sentistes calar-vos pelos ossos uma sensação de frio quando ele firma sobre um rosto qualquer aqueles olhos negros e sombrios, que parecem querer virar a gente de dentro para fora.
A DUQUESA — Cala-te (Mais baixo.) Eu mesma, Paula, eu mesma, quando adivinho, não me é preciso ver, quando adivinho que meu marido me encara fixamente, sinto o sangue arder-me nas faces e perturbo-me toda como se fosse criminosa; e todavia não tenho um pensamento, nem sequer um pensamento de que me deva acusar.
PAULA — Vede! Até vós mesma...
A DUQUESA — Não posso escutá-lo sem estar em contínuo sobressalto;
mesmo quando ele me fala eu temo a explosão da sua cólera. A sua cólera terrível! Eu a temo!... E contudo, para que o amasse bem pouco lhe seria preciso... ele não o quer.
PAULA — Ele, senhora!
A DUQUESA — O rei seu tio, a rainha sua avó, a duquesa sua mãe, todos o constrangeram a celebrar este casamento bem contra a sua vontade. Ele o não queria, a ponto de tentar evadir-se disfarçado. Reputa-me a causa de haver ele mentido à sua vocação, e ainda me não pôde perdoar.
PAULA — Mas que culpa tendes vós?
A DUQUESA — Nenhuma; e contudo ele tem razão. Quem se não irrita de encontrar continuadamente o mesmo obstáculo diante de si? Apesar disso ele trata-me com magnificência real, tem para comigo deferências e atenções, que eu bem sei que mais são filhas da urbanidade que do coração; mas outro fosse ele que facilmente se esqueceria na sua vida íntima das maneiras de cortesão.
Sempre é certo que ele é bem melhor do que o supões.
PAULA — Não vos contradirei, senhora duquesa. Prouvera ao céu que ele fosse tão bom como vós sois.
A DUQUESA — Quê! Já aprendeste a lisonjear?
PAULA — Pois deveras, senhora duquesa, sou eu a primeira em dizervos coisas tão simples como isto?
A DUQUESA — Certo, és a primeira.
PAULA — Pasmo com o que me dizeis. Permitis-me que vos fale toda a minha verdade?
A DUQUESA — Dize-a.
PAULA — Olhai, senhora; se sou a primeira em dizer-vos que sois bela e que tendes bom coração, muitos outros que pensam como eu calam-se prudentemente para que não tomeis a verdade por ofensa, nem por lisonja o louvor merecido.
A DUQUESA — Boa Paula! Julgas que todos me vêem com os teus olhos, e que em mim pensam com a tua alma?
PAULA — Não, senhora; com melhores olhos que os meus, com alma mais ardente que a minha... Um sobre todos...
A DUQUESA — Quem?
PAULA — Aquele belo mancebo que todas as manhãs passa por defronte do vosso balcão montado em um formoso ginete murzelo, que ele parece sofrear não com esforço, mas só por força da sua gentileza.
A DUQUESA — De quem falas tu?
PAULA (Continuando.) — Ainda não cinge espada de cavaleiro, mas...
A DUQUESA — Ah!
PAULA — Mas quando ele a houver cingido... vereis... vereis que nome terá o senhor Alcoforado! Háde ser alguma coisa assim, como Hermigues, o Traga-Mouros, ou Leonardo, o cavaleiro namorado.
A DUQUESA — És mais hábil do que eu, que ainda lhe não pude descobrir partes de cavaleiro.
PAULA — Oh! É porque ainda lhas não quisestes descobrir, ou porque talvez ainda não atentastes bem nele.
A DUQUESA — Muito te interessas por ele, minha boa Paula.
PAULA — Muito: por que vos hei-de eu mentir?... Gosto muito dele...
Sabeis o que o outro dia me aconteceu?
A DUQUESA — Que foi?
PAULA — O outro dia tinha eu na mão aquela vossa fita de cetim raso aleonado, e ele, que me viu com ela, veio direto a mim, e sem me dar tempo para dizer ai! cortou um pedaço e... levou-o! A DUQUESA (Levantando-se.) — Imprudente! não sabes que tenho por costume de a trazer, e que todos em palácio já me viram com ela?
PAULA — Não vos estou dizendo que não tive tempo para dizer ai! E
depois, que mal há nisso? Uma fita já toda amarrotada!...
A DUQUESA (Severa.) — Seja o que for, senhora, coisas que me pertençam não as quero por mãos de estranhos. Quando para aqui viemos, eu pedi ao senhor duque que me livrasse da etiqueta cortesã, da numerosa companhia das damas do meu serviço, e que a vós só fosse lícito acompanharme. Não deveis, portanto, abusar da minha condescendência, nem comprometer-me com a vossa leviandade. Não sabeis que gênio tem o duque.
PAULA — Mas que queríeis vós que eu fizesse? Ele julgou que a fita fosse minha.
A DUQUESA (Menos severa.) — Estais certa disso?
PAULA — Pois de quem a havia ele de julgar? Viu-me com uma fita nas mãos, e pensou, muito naturalmente, que era minha.
A DUQUESA (À parte) — Vaidosa! (Alto.) — Bem: o senhor duque não pensará tão naturalmente como vós; e assim é mister que a torneis a haver.
PAULA — Eu lha pedirei, senhora duquesa; e se ele a recusar... Oh!
Então nós o faremos julgar contumaz e revel, e como tal degradar para alguma das sete partidas do mundo, com baraço ao pescoço e pregão que diga:
Cavaleiro descortês e descomedido degradado por amor.
A DUQUESA — Se ele vos não quiser atender, recorreremos a outra justiça, menos pomposa, porém mais segura. (Senta-se e com a mão faz-lhe sinal para que se retire.)
PAULA (À parte) — Jesus, Senhor! (Abre a porta do fundo e olha a furto para dentro) — Ainda não!
A DUQUESA — Que dizes tu?
PAULA — Nada, senhora; estava agora lembrando-me daquele pobre cavaleiro! A DUQUESA — Está bem, está bem.(Repete-lhe o sinal. Paula sai:
momento de silêncio.) Não gosto de ouvir falar nele, e não posso pensar em outra coisa. Por quê?... (Torna-se pensativa..)
CENA III
ALCOFORADO, a DUQUESA
ALCOFORADO — Senhora duquesa!
A DUQUESA (Levantando-se.) — Paula! Paula!
PAULA (Entrando) — Que me quereis, senhora duquesa?
A DUQUESA (Em voz baixa.) — Não sabias tu que ele vinha? Por que me deixaste só?
PAULA — Não o sabia, senhora.
A DUQUESA — Não importa; ficarás comigo.
PAULA — Quereis que ele presuma que dele vos arreceais?
A DUQUESA — Ah! (Alto.) — Que fazias tu?
PAULA — Ia para junto dos vossos filhos.
A DUQUESA — Está bem; podes ir. (Paula sai.)
.
CENA IV
ALCOFORADO, a DUQUESA
ALCOFORADO — Senhora duquesa...
A DUQUESA (Sem olhar para ele.) — A que vindes, senhor?
ALCOFORADO — Saber se alguma coisa vos apraz mandar do meu serviço. A DUQUESA — Nada, senhor; podeis retirar-vos. (Alcoforado encara-a tristemente por alguns segundos, e vai para sair. A duquesa observando-o.)
Pobre mancebo! bastou uma só palavra minha para o entristecer àquele ponto!...
(Sentando-se). Senhor Alcoforado! (Voltando-se para ele.) Como vai a vossa boa irmã, senhor?
ALCOFORADO — Vós sois boa, senhora duquesa. Sois severa de vez em quando, porém também tendes acentos que são como alívio para quem os escuta.
A DUQUESA (Admirada.) — Mas quando eu vos falo de vossa irmã, a que propósito vem a minha bondade?
ALCOFORADO — A que vem, senhora?... É que vós me vistes triste e pensativo, temendo ter incorrido no vosso desagrado, e não quisestes que eu me fosse da vossa presença com aquele espinho no coração. Sois boa e generosa:
pois não é generosa a mão que, podendo colher uma flor para a desfolhar no seu caminho, a deixa verde e orvalhada balancear-se na sua haste? Não é generoso o pé que, podendo calcar um inseto, ressalva-o para lhe não fazer mal algum?
A DUQUESA — Enlouqueceis, senhor?
ALCOFORADO — Que sei eu, senhora duquesa? Eu mesmo não sei o que digo; mas já principiei a dizer-vos destas coisas que não compreendo, e que todavia não posso esconder-vos por mais tempo, deixai que as diga por uma vez, e podeis depois ordenar-me que não mais apareça diante de vós... Oh! não;
dai-me um castigo bem rigoroso, mas não me exileis da vossa presença.
A DUQUESA — Inquietais-me.
ALCOFORADO — Escutai-me, senhora duquesa. As pessoas da vossa hierarquia têm às vezes necessidade urgente de um homem resoluto e discreto que marche afoitamente por meio das trevas sem temer os golpes de um punhal traiçoeiro, nem a morte obscura e sem glória, que em meio delas o poderá alcançar: têm às vezes caprichos imperiosos, e para os satisfazer é preciso todo o aparelho da tortura e todo o horror do cadafalso. Assim mo disseram. Se alguma vez tiverdes um desses caprichos ou uma dessas necessidades, dizei-me:
— vai! e eu andarei por meio das trevas; — sofre! e eu me sujeitarei à tortura;
— morre! e eu subirei ao cadafalso.
A DUQUESA — Senhor Alcoforado, não queira Deus dar-me tais pensamentos, nem tenha eu a criminosa vontade de manchar em seu começo a vossa vida que promete ser tão bela. A vossa pátria tem necessidade de almas puras, de braços esforçados e de homens que saibam morrer por ela; não de morte infamante como a quereis, mas da morte gloriosa do valente na arena do combate! Será doravante meu cuidado abrir diante de vós uma senda nobre e grande por onde marcheis desassombrado e a passos de gigante.
ALCOFORADO — Não vos pedi eu que me não exilásseis da vossa presença?
A DUQUESA — Ah! chamais a isto exílio!... Bem sei que na vossa idade há sempre motivos fortes que nos prendem à terra em que vivemos; porém é bem melhor que vos vades afazendo à idéia de que cedo ou tarde os haveis de romper, e por motivos talvez mais ponderosos. (Atentando no barrete.) Tendes um lindo barrete, senhor Alcoforado.
ALCOFORADO — Um mimo de minha irmã, senhora.
A DUQUESA — Deixai-mo ver?... É lindo. E esta fita também foi vossa irmã quem vô-la deu?
ALCOFORADO (À parte.) — Céus!... (Alto.) — Não, senhora.
A DUQUESA — Agora me lembra! A minha camareira queixou-se-me há pouco de que impolidamente lhe havíeis cortado uma fita que ela trazia na mão. (Desprendendo a fita). E como essa fita era minha, não levareis a mal que eu dela me aposse de novo. (Dá-lhe o barrete e põe a fita sobre a mesa.
Momento de silêncio.) — Vós partireis, senhor Alcoforado.
ALCOFORADO — Poderia eu desobedecer-vos, senhora!
A DUQUESA — Partireis. O senhor rei d. Manuel abriu aos seus campeões as portas da Ásia e derribou as da África: lá ireis ganhar as vossas esporas, e desde já vos asseguro que eu me alegrarei a cada notícia que me chegar de algum feito brioso que houverdes praticado, porque então conhecerei que sois digno de toda a minha proteção.
ALCOFORADO — E as pequenas palmas que eu colher no campo da glória, poderei, senhora, poderei depor aos pés da minha protetora?
A DUQUESA — Quem vô-lo obstará? As nossas donas ainda se não esqueceram de sentir emoção ao aspecto de um rosto queimado pelo Sol da África, de uma fronte coroada de louros ou de um peito coberto de cicatrizes. D.
Manuel é magnífico; quando vemos uma comenda ao peito de um lidador, bem sabemos que ela esconde uma ferida gloriosa. ALCOFORADO — E para que eu não desfaleça na senda perigosa que ora vou trilhar sozinho e sem conselhos...
A DUQUESA — Quereis uma memória, não é assim?
ALCOFORADO — Não me atrevia a pedi-la.
A DUQUESA (Brincando com a fita) — Dar-vos-emos uma memória, senhor Alcoforado; uma memória que em nossa ausência vos aconselhe e que vos diga que, assim como estimaremos o vosso triunfo, uma ação má que praticardes nos será motivo de grande nojo e nos desconceituará perante nós mesma. (Momento de silêncio. A duquesa levanta-se e estende-lhe a fita.) —
Não é isto o que desejais possuir?
ALCOFORADO (Com entusiasmo) — Mouros e africanos! Atravessarei os mares para vos ir atacar impávido nas vossas espeluncas, para vos acossar nos vossos páramos ardentes, para vos ir desafiar da porta das vossas fortalezas espedaçando o cajado dos vossos alarves. E quando dentre as vossas ruínas, do cimo de algum pano de muralha, a minha espada ensangüentada e fumegante apontar para o Ocidente rutilando sobre vós outros como um meteoro aziago, o eco do meu nome atravessará de novo os mares, e vós direis por ventura, com orgulho, que era digno... (Caindo-lhe aos pés e tomando-lhe a fita.) — da vossa proteção.
CENA V
OS MESMOS, um PAJEM
O PAJEM — Senhora duquesa! (Alcoforado levanta-se confuso.) — O
duque, meu senhor, manda saber de vós se lhe permitis visitar-vos.
A DUQUESA — Dizei ao senhor duque que sou bem feliz quando ele se digna de me honrar com a sua presença. (O pajem sai.) Senhor Alcoforado, os fidalgos da comitiva do meu nobre esposo e senhor de ora em diante só me poderão falar no salão do palácio.
ALCOFORADO — Mercê, senhora duquesa!
A DUQUESA — E isto começa desde já a efetuar-se.
ALCOFORADO — Mandais, senhora. (Curva-se e retira-se.) A DUQUESA (Pensativa..) — Fui imprudente.
CENA VI
O DUQUE, a DUQUESA
O DUQUE — Minha duquesa, venho hoje feliz e venturoso... (Olhando em redor de si com desconfiança.) Não faláveis a alguém?
A DUQUESA — Ao senhor Alcoforado, que se retirou neste momento.
O DUQUE — É um gentil mancebo o senhor Alcoforado. Nós prometemos ao seu velho pai fazer dele um brioso cavaleiro, e por São Tiago, não nos falta vontade de cumprirmos com a nossa promessa. Que pretendia ele?
A DUQUESA — Quase nada: que lhe permitísseis entrar noutra carreira, deixando o vosso serviço, e que impetrásseis del-rei vosso tio uma recomendação aos fronteiros de África para...
O DUQUE (Interrompendo-a.) — Para que o tratem com mil atenções, deixando-o vegetar na sua barraca de campanha como uma flor numa estufa, não é isso?
A DUQUESA — Não, senhor; para que lhe assinem um posto perigoso, onde ele possa alcançar morte honrosa ou nome glorioso.
O DUQUE — Bem, muito bem. Apraz-nos sabê-lo desse acordo, que é de um ânimo generoso revelar tal ardimento em tão verde juventude! Nós lhe abriremos essa estrada e talvez que um dia nós mesmos, fronteiro das terras dentre Douro e Minho, fujamos da vossa muito amada companhia para irmos além-mar com os nossos vassalos acometer os idólatras ao grito de: Bragança e Portugal!... O senhor rei d. Manuel, que nos não quis ver professar na religião de Malta, permitirá sem dúvida à nossa espada dilatar-lhe o império por terras de infiéis. (Momento de silêncio.) Não é para isto que vimos ter convosco.
Sentai-vos. Dizei-me, duquesa, não vos apraz esta vida um pouco rústica que viemos aqui buscar neste desterro?
A DUQUESA — Não é do meu dever seguir-vos para onde vos aprouver levar-me? O DUQUE — Não vos falo do vosso dever; trata-se de vós, do vosso gosto; pergunto-vos se não amais esta vivenda.
A DUQUESA — Duque, poderia eu estar melhor algures que na vossa companhia?
O DUQUE — Sempre boa, afável e condescendente! Mas certo que deveis amar esta vida que aqui passamos em Vila Viçosa. Tendes a alma um pouco propensa à tristeza e à melancolia: é um contágio em todos os que me cercam e que vivem da minha vida. Para essas almas, duquesa, a vida cortesã é pesada e odiosa... Eu mesmo... há momentos na minha vida em que eu daria de boa- mente honrarias, brasões, títulos, nome e tudo para que, aldeão simples e humilde, me deixassem viver obscuro e feliz longe do clamor das turbas e do bulício do mundo. Não imaginais com que profundo prazer parto sempre para viver uma semana na serra de Ossa com os meus capelães, alimentando-me com a doutrina daqueles santos padres, ou exercendo as práticas mais severas da sua religião; ou então, e bem melhor, para habitar o meu oratório no convento do Bosque. O meu oratório, sabeis o que é? Uma ermidazinha humilde e vergonhosa ali escondida entre as ramas do arvoredo frondoso como um pensamento de virgem, aformoseado pelo silêncio e pelo pudor. Os pensamentos que aqui me perseguem, dolorosos como a realidade, lá me aparecem doces e tristes como uma recordação.
A DUQUESA — Eu concebo, senhor duque, que vós partais sempre com a felicidade no coração, e que sempre torneis...
O DUQUE (Atalhando-a.) — Mais feliz do que parti. Tenho a certeza de encontrar sempre a vossa inalterável doçura, a vossa alma compassiva e angélica e o vosso rosto sereno e tranqüilo. Não é convosco que as minhas recordações... (Apertando a cabeça.) Sempre elas!...
A DUQUESA — Sofreis, senhor duque?
O DUQUE — Muito. Esta noite não sei que negros pensamentos me atormentaram. A morte lastimosa de meu pai, a minha infância desvalida, o meu envenenamento, o meu exílio por terras estranhas, eram eventos dolorosíssimos que, sem cessar, me passavam por diante dos olhos roubando-me o sono... e a razão, creio eu...
A DUQUESA — E não vos distraístes com o passeio desta manhã?
O DUQUE — Sim. A corrida afanada, o tresfolgar dos cavalos e a aragem fresca do romper da alva tiveram forças para me chamar à realidade em poucos instantes. Respirei profundamente o ar puríssimo dos campos, vi o Sol bordar o horizonte com uma franja de púrpura, derramar pelo céu alvacentos listões de fogo vivíssimo e destacar dos montes, como uma coluna de incenso, a neblina pegajosa que ali se balançava como um penacho de guerreiro em dia de batalha. Vi a natureza sorrir-se em redor de mim; e eu extasiei-me de a sentir tão fundamente, e fui feliz! Tão feliz como no dia em que o senhor rei houve por bem mandar abrir as portas do meu palácio, fechadas com estrondo por um vento de morte. Tão feliz como no dia em que eu arranquei o crepe fúnebre que enlutava o meu escudo, pregado ali pela mão do carrasco. (Levantando-se.)
Quando meu pai... Pajem! Pajem!
A DUQUESA — Que tende vós, senhor?
O DUQUE — Não vedes que me é preciso sair ainda, que me é preciso matar este pensamento com algum exercício? (O pajem entra.)
CENA VII
OS MESMOS, um PAJEM
O DUQUE — Fernão Velho que mande selar os ginetes, que faça aprontar a matilha e os falcões e que abra a sala de armas para que os meus pajens e os senhores do meu serviço que me quiserem acompanhar se aparelhem para a caça. (O pajem vai-se.)
CENA VIII
O DUQUE, a DUQUESA
O DUQUE — Não vindes, senhora duquesa?
A DUQUESA — Se me permitis, d. Jaime.
O DUQUE — Vamos à devesa de Vilaboim que, como sabeis, abunda em caça; tem alguns javalis, mas creio que deles não vos arreceais; e demais, é ocasião de experimentardes o vosso belo palafrém andaluz que há pouco vos chegou de Espanha. Quereis vir?
A DUQUESA — Mandais...
O DUQUE — Não, peço-vos. A DUQUESA — Mas... desejais ao menos levar-me na vossa companhia?
O DUQUE — Ser-me-ia prazer se para vós não fosse incômodo.
A DUQUESA — Irei, d. Jaime.
O DUQUE — Eu vô-lo agradeço, minha bela guerreira, e de volta falaremos do vosso protegido!
A DUQUESA — Meu protegido!
O DUQUE — Sim, não vos interessais por ele?
A DUQUESA — Como coisa que, por assim dizer, vos pertence.
O DUQUE — É ser cruel, duquesa! Pois nem ao menos quereis que tenha a presunção de haver retribuído com outra a vossa cortesia? Como quiserdes, é certo que me não pesa de vos ficar obrigado. Ele partirá. Vireis já, não é assim?
A DUQUESA — Creio que vos não farei esperar.
O DUQUE — Então sede breve. (O duque vai-se.)
CENA IX
A DUQUESA
A DUQUESA (Só.) — Ele irá também conosco; eu o adivinho... Vê-lo-ei pela última vez.
FIM DO PRIMEIRO QUADRO ATO PRIMEIRO
QUADRO SEGUNDO
A cena representa o mesmo aposento do quadro primeiro CENA I
A DUQUESA, PAULA
PAULA — Como estais, senhora duquesa?
A DUQUESA — Boa. Não veio alguém saber de mim?
PAULA — Um pajem do senhor duque da parte de seu amo.
A DUQUESA — Tu que lhe disseste?
PAULA — Que descansáveis; e ele tornou para dizer-me que o senhor duque seria convosco logo que acabásseis de repousar.
A DUQUESA — Está bem. (Momento de silêncio.)
PAULA — Senhora duquesa, é certo o que se diz que vos ia acontecendo?
A DUQUESA — O quê?
PAULA — Um desastre?
A DUQUESA — É certo.
PAULA — Mas podia ele ser de morte?
A DUQUESA — Que sei eu? Talvez fosse: felizmente o meu bom anjo me não desamparou.
PAULA — O vosso bom anjo?
A DUQUESA — Sim. Foi um momento horrível, Paula. O duque se havia embrenhado pela floresta com a sua comitiva e alguns cavaleiros que me guardavam insensivelmente me foram abandonando, seguindo o vôo de um falcão que tinham soltado: de repente o meu palafrém arrancou comigo pulando troncos, pedras e valados.
PAULA — E não caístes?
A DUQUESA — Quis ver de que se tinha ele espantado: voltei a cabeça e vi... foi horrível! Um javali que vinha sobre mim.
PAULA — Jesus, Senhor!
A DUQUESA — Perdi o tino; em vez de lhe soltar as rédeas, puxei-as com força: ele tropeçou, caiu, e eu caí com ele.
PAULA — Virgem Santíssima... E como vos salvastes?
A DUQUESA — Houve-me por morta, porém não tive tempo para ter medo. Escrava da minha sorte e sem tentar escapar-lhe, fechei os olhos, senti o zunido de uma coisa que cortava os ares e um braço que me enlaçava pela cintura quando eu ia a cair por terra.
PAULA — Foi o senhor duque!... Bom homem!... Que muito que lhe eu já quero só pelo bem que vos há feito!
A DUQUESA — Não foi ele. Abri os olhos para ver o protetor que o céu tão oportunamente me enviara. Era Alcoforado quem me tinha salvado a vida.
Por esforço de coragem sobrenatural, que ainda não sei como a achei em mim, quis-me interpor entre ele e o animal, que pouco havia não tinha ousado afrontar; porém ao tropel de alguns cavaleiros, olhei naquela direção e vi meu marido que de nós se aproximava: senti como uma nuvem diante dos olhos e caí desmaiada.
PAULA — Nobre mancebo!
A DUQUESA — Quando tornei a mim já ele tinha desaparecido: vi somente o javali com um venábulo que o atravessava de parte a parte. Foi preciso vê-lo para me convencer de que o que eu supunha um sonho tinha sido uma realidade.
PAULA — Então, senhora duquesa! Não é com razão que vos digo que o mancebo, em quem ainda não pudestes descobrir partes de cavaleiro, será em algum tempo guerreiro de nomeada? A DUQUESA — Tens razão, boa Paula. A estas horas que seria de mim se ele não fosse?
PAULA — E bem que vos deu ele desmentido tão cavalheiroso! Ainda quereis que lhe eu peça a vossa fita?
A DUQUESA — Quando outra coisa não fosse, ser-me-ia bastante desairoso negar coisa tão pouca a quem tanto fez por meu respeito; não lhe fales nela! (Silêncio.)
CENA II
OS MESMOS, o DUQUE
O DUQUE (Sombrio) — Como ides, senhora?
A DUQUESA — Foi um sobressalto, senhor duque; um delíquio passageiro que não merecia a vossa solicitude.
O DUQUE — Folgamos de vos achar perfeitamente restabelecida. Pesarnos-ia que por nossa causa sofrêsseis graves incômodos.
A DUQUESA — Quando eu os sofresse, d. Jaime, não teríeis razão para vos culpardes a vós mesmo. É verdade que fostes vós que me pedistes de ir a esta caçada; porém o acontecimento que teve lugar estava tanto acima da previdência humana que não era de ser prevenido.
O DUQUE — Sim, duquesa, estava muito acima da previdência humana, porém, não dos meus pressentimentos. Já falastes ao vosso salvador?
A DUQUESA — Não, senhor duque.
O DUQUE — Convém que lhe faleis. A pessoas da nossa hierarquia não está bem dever favores a quem quer que seja; porém, quando tal aconteça, devese-lhe uma remuneração tal, que ele se não lembre do favor prestado, senão do galardão recebido. Falai-lhe, prometei-lhe quanto vos aprouver, que nós de antemão subscrevemos a tudo quanto lhe prometerdes: antes mais que menos...
Paula, na antecâmara da senhora duquesa deve estar algum dos nossos pajens;
dizei-lhe que chame o senhor Alcoforado e trazei-nos depois um copo de água.
(Paula sai.) CENA III
O DUQUE, a DUQUESA
O DUQUE (Rompendo o silêncio.) — Quereis ir para a corte, senhora duquesa?
A DUQUESA — E vós também ides?
O DUQUE — Comigo ou sem mim, isso que importa?
A DUQUESA — Duque, morarei de bom grado onde quer que morardes:
o lugar pouco me importa.
O DUQUE — Mas não se dirá que sou um esposo colérico e despótico, que entorpeço a vossa vontade, que embargo as vossas ações, que ponho obstáculos aos vossos mais inocentes, mais íntimos desejos? Por Deus, senhora, tende sequer por um instante, sequer uma vez um desejo vosso, uma vontade vossa, livre e independente de outro desejo e de outra vontade. Não vos mostreis como vítima adornada para o sacrifício, e levada para ali mau grado seu; mostrai-vos senhora, que realmente o sois.
A DUQUESA — Irei, senhor duque.
O DUQUE — Falei assim, que vos entenderemos. A corte tem muitas festas, muita pompa, muitos divertimentos: precisais deles, bem o sabemos.
CENA IV
OS MESMOS, PAULA (com um copo de água.)
O DUQUE (Continuando.) — Com o vosso gênio careceis de distrações, e fazeis bem em vos distrairdes, ou dia virá em que, como eu, mau grado vosso, sereis vítima da vossa imaginação. (Tomando o copo maquinalmente.) Sei que esta vida não deve quadrar com a vossa vida, e assim aprovo inteiramente a vossa resolução. (Levando o copo aos lábios e logo arrojando-o ao chão.) Esta água!... Esta água.
A DUQUESA (Levantando-se assustada.) — Ah!
PAULA — Água rosada, senhor: não é o que costumais beber? O DUQUE (Tomando vivamente as mãos da duquesa.) —Oh! Perdão, perdão, duquesa! (A Paula.) — Ide-vos. (Paula sai.)
CENA V
O DUQUE, a DUQUESA
O DUQUE — Contra a minha vontade vos atemorizei; foi um movimento rápido, impetuoso, violento... não tive tempo para o conter.
A DUQUESA — Fizestes-me bem mal, senhor!
O DUQUE — Bem o vejo. Desastrado que eu sou! Mas vós que tanto tempo há me conheceis, por que vos não rides dos meus arrebatamentos, das minhas desconfianças, dos meus acessos de cólera? Por que vos não rides, senhora?
A DUQUESA — Não posso.
O DUQUE (Sentando-se.) — Já compreendeis a razão por que vos não desejo comigo? É porque mais que nunca os meus ataques multiplicam-se, acabrunham-me, perseguem-me e contudo já os não devíeis temer; não vos devíeis atemorizar quando vos não compadecêsseis de mim.
A DUQUESA — Oh! Senhor!
O DUQUE — Sim, compadecei-vos, porque eu sou mais infeliz que mau.
Apenas me levantei do berço, que em vez de meu pai vi um cadafalso por cima da minha cabeça; apenas no exílio, fomos envenenados eu e meu irmão: ele morreu, e eu continuei a arrastar a minha vida sobre a terra. Despojado violentamente de quanto há no mundo de mais precioso e caro, continuadamente contrariado nas minhas inclinações as mais íntimas, as mais santas; ainda hoje! hoje que sou homem, duque, poderoso e respeitado, como dizem, sofro de ter nascido nobre em vez de ter nascido vilão, de ser senhor em vez de ser vassalo, de ser livre em vez de ser escravo!
A DUQUESA — Não digais tal, senhor.
O DUQUE (Pegando-lhe na mão.) — Digo-vos isto, porque é este o meu sentimento; e porque, se assim não fora, eu não sentiria, mesmo agora, a vossa mão tremer na minha, fria e gelada, como que já não tendes vida. A DUQUESA — Foi o terror momentâneo; já o não sinto.
O DUQUE — Ouvi. Esta manhã, quando vos eu vi por terra, sozinha e sem defesa contra o javali que vos ia espedaçar, julguei que vos havia perdido, e por minha culpa; quando vi o senhor Alcoforado arrojar o seu venábulo, da distância em que eu estava, e como vos visse cair, pareceu-me que o ferro vos tinha ofendido, e que morríeis dele. Felizmente que nada vos aconteceu, graças à mão certeira do mancebo, que tomou a seu cargo desmentir os meus pressentimentos. Bem sabeis quanto sou supersticioso! A minha insônia desta noite, as duas mortes de que escapastes, fazem-me crer que uma fatalidade sobrevirá hoje à minha família. Não o duvideis!... Será o terceiro golpe o mais terrível! A
vítima não escapará. Quando levei aos lábios aquele copo de água rosada que a vossa camareira me oferecia, a morte de meu irmão me passou por diante dos olhos como um relâmpago, e eu me esqueci de mim, de vós, de tudo para só me lembrar do que já sofri com o veneno que me deram. Atemorizei-vos, bem contra a minha vontade.
A DUQUESA — Mas por que pensais em coisas tão tristes? Por que vos não distraís?
O DUQUE — Posso eu pensar noutra coisa que nisto não seja?... Posso eu achar prazer senão em afundar-me nos meus pensamentos e torturar-me a mim mesmo?... Partireis, duquesa; jovem, nobre e formosa, não é com um homem como eu que deveis passar a vida. Ireis para a companhia de minha mãe que também é vossa, por ela fostes educada... (Entra Alcoforado.) Quem ousa interromper-nos?
CENA VI
OS MESMOS, ALCOFORADO
ALCOFORADO — Senhor duque...
O DUQUE (Severo) — O que nos quereis?
ALCOFORADO (Concentrado.) — Serei acaso algum mendigo?
O DUQUE (Mais severo.) — O que nos quereis, senhor?
ALCOFORADO — Inferno! Ser assim tratado na presença dela! O DUQUE (Levantando-se.) — Mancebo, não costumamos a repetir as nossas ordens. Cabeças mais nobres, presunções mais bem fundadas que as vossas, nós as temos por mais de uma vez curvado até se nivelarem com o solo.
Rompei o silencio, senhor, ou por S. Tiago...
ALCOFORADO — Eu me retiro, senhor duque...
A DUQUESA — Duque, não fostes vós quem o mandastes chamar?
O DUQUE — Ah! sim, sim. Que miserável cabeça que eu tenho! Perdoai, meu jovem amigo; outros pensamentos agora nos ocupavam, porém o salvador da nossa nobre esposa e senhora será sempre benvindo, qualquer que seja o lugar em que estivermos. Sentai-vos.
ALCOFORADO — Senhor duque, se mo permitirdes, eu escutarei de pé as vossas determinações.
O DUQUE — Como vos aprouver. A duquesa nossa esposa vos quer agradecer a destreza e coragem com que hoje lhe salvastes a vida. Nós nos retiramos; vinde, porém, ter conosco antes de vos partirdes para África, e onde quer que estiverdes lembrai-vos que tendes um amigo no duque de Bragança e Guimarães. (Estende-lhe a mão, Alcoforado hesita.) Tomai-a, senhor Alcoforado; mais nobre que ela a de el-rei; mais leal nenhuma. (Alcoforado toma-lhe a mão). Adeus. (Sai).
CENA VII
A DUQUESA, ALCOFORADO, PAULA
PAULA (Espreitando da porta) — Já se foi? (Andando para o meio da cena.) — Viva Deus!... Está hoje terrível o senhor duque.
A DUQUESA (Levantando-se e levando a Paula para um canto da cena.) — Paula, não saias de junto de mim! PAULA — Por que, senhora?
A DUQUESA — Não saias. (Vindo sentar-se.) — Senhor Alcoforado, quando esta manhã vos oferecemos a nossa proteção, de mau grado a aceitastes, e cedo tivestes ocasião de nos provar que bem mais útil nos seria a nós o vosso braço do que a vós a nossa proteção.
ALCOFORADO — Foi um acaso, senhora duquesa, não falemos mais dele.
PAULA — Mas deveras, senhor, que vos portastes com toda a gentileza.
ALCOFORADO (Em voz baixa) — Paula, quero dever-te um grande favor.
A DUQUESA — Foi um acaso, é verdade, mas um acaso que nos podia ser funesto se ali felizmente não deparássemos convosco.
PAULA (A Alcoforado, em voz baixa.) — O que quereis de mim?
ALCOFORADO — Se não fosse eu seria outro; em vez daquele incidente haveria outro qualquer, porque é bem de ver que não podíeis morrer assim. (Em voz baixa, a Paula). Deixa-nos a sós.
PAULA — Oh! Sempre é certo que tendes o coração bem generoso e a mão certeira e leal como vós sois. (Em voz baixa.) Ela pediu-me que a não deixasse; tentarei.
A DUQUESA — Mas... pesa-vos acaso que em o nosso reconhecimento vos devamos alguma coisa?
ALCOFORADO — Oh! Não, senhora. Se eu vos devesse a vida haveria por isso de estimá-la menos? O evento desta manhã foi realmente um acaso bem indiferente para vós, bem venturoso para mim.
PAULA — Permitis, senhora duquesa, que eu me retire por um instante?
ALCOFORADO (Em voz baixa.) — Não voltes!
PAULA (Em voz baixa) — Deixai-me!
A DUQUESA (Em voz baixa.) — Louca! E o que te eu disse? PAULA (Em voz baixa.) — É só por um instante.
A DUQUESA — Vai, mas não te esqueças. (Paula sai.)
CENA VIII
A DUQUESA, ALCOFORADO
A DUQUESA (Depois de um momento de silêncio.) — Quando hoje tornei a mim do meu desmaio, procurei-vos entre as pessoas que me cercavam, não tanto para vos agradecer, como para convencer-me por meus próprios olhos que nenhum mal havíeis sofrido por meu respeito.
ALCOFORADO — É certo que entre as pessoas que vos cercavam nenhuma houve que vos pudesse dar notícias minhas?
A DUQUESA — Não me atrevi a perguntá-lo.
ALCOFORADO — Ah! Não vos atrevestes! De certo, fora pasmoso que donas como vós inquirissem em público de pessoas como eu.
A DUQUESA — Não foi por esse motivo. (Hesitando.) Queria saber de vós mesmo se estáveis perfeitamente bom.
ALCOFORADO — Eu vô-lo agradeço, senhora. Infelizmente nada sofri.
A DUQUESA — Infelizmente!
ALCOFORADO — Infelizmente. Se algum desastre me houvesse acontecido, talvez que por um instante vos esquecêsseis da vossa nobreza para derramar um olhar de compaixão sobre o mísero que por vós se houvesse sacrificado: talvez que por um instante vos esquecêsseis da prudência, essa virtude divina que é o móvel das vossas ações, não para verter lágrimas sobre mim, mas ao menos para desatar uma palavra do coração, para soltar um grito que me convencesse de que também experimentais o que tão profundamente fazeis sentir.
A DUQUESA — Não vos compreendo, senhor!
ALCOFORADO — Mas acreditais o que ainda hoje vos disse;
compreendeis ao menos que eu vos serviria de joelhos toda a minha vida, para que do alto da vossa grandeza deixásseis cair sobre mim triste e mesquinho uma palavra de comiseração; que eu daria a minha vida por um sorriso vosso, que eu daria a minha cabeça ao carrasco se me fizésseis um aceno e se me prometêsseis chorar sobre a minha estrela, sobre mim, ainda quando só fosse no silêncio da noite, quando nenhuns olhos pudessem interrogar os vossos olhos, orvalhados com lágrimas, quando nem uma voz pudesse desafiar a vossa voz, embargada pelos soluços? Compreendeis ao menos isto, senhora duquesa?
A DUQUESA — Não, senhor. Que sou eu para vos merecer tão alta dedicação?
ALCOFORADO — Que sois vós! Sei-o eu por ventura? Sois o objeto que me fere continuadamente os sentidos, a idéia que tenazmente me ocupa a alma, a imagem que veio sentar-se imperiosamente à minha cabeceira, e dizerme: “não terás olhos senão para mim”, a voz que me brada a todo o instante:
“não terás ouvidos senão para mim”, o fantasma que me prende, que me enlaça, que me eleva nas asas da esperança, que me abate no abismo da desesperação, e que me repete sempre e sempre: “morrerás por mim!” Tentei resistir a esta idéia, a esta imagem, a este fantasma; não o pude, que mais podia a fascinação do que a minha vontade. Evoquei o amor de família, as afeições que eu há pouco sentia ardentemente por meu pai, nobre velho cuja mão descansa sobre a minha cabeça como no bordão da sua velhice; por meu irmão, jovem esperançoso que vai no caminho da vida medindo os seus passos sobre os meus passos; por minha irmã, donzela extremosa que se apegou ao meu destino como hera ao muro mal construído, que está prestes a desabar; e as minhas afeições foram mudas, e os meus olhos cegos, e os meu ouvidos surdos... Só essa imagem cintilava na minha vida como uma santa numa capela ardente, cercada de turíbulos e envolta em ondas de incenso. Deixei-me arrastar por ela. Cedi;
perdi-me.
A DUQUESA — Eu devia tê-lo adivinhado! (Resolutamente). Estais salvo, senhor; partireis para África.
ALCOFORADO (Amargamente.) — Não é essa a vossa vontade?
A DUQUESA — Partireis, senhor; não escuteis uma palavra, não volteis a cabeça para trás. Parti amanhã, esta noite, agora mesmo, parti!... Embrenhaivos pelos esquadrões dos inimigos sem temor da morte, que ela respeita os valentes; e quando vos tornardes do vosso delírio, a santa, que há de cintilar no meio das vossas esperanças, não será a imagem de uma mulher; será a glória, e estareis salvo. ALCOFORADO — Partirei, senhora duquesa; mas juro-vos que me não hei de esquecer. Terei eu tempo para isso? A minha vida pende de um fio, não sei qual: sei que há de romper-se, e que não tardará muito!
A DUQUESA — Longe os maus agouros, senhor Alcoforado; partireis cheio de vida e voltareis carregado de louros.
ALCOFORADO — Que farei deles? A minha imagem, dizeis vós, se terá apagado como um sonho ou como o fumo nos ares; meu pai terá desaparecido da face da terra, que os seus dias já não podem ser muitos; meus irmãos!... Sei eu por ventura o que será deles durante a minha peregrinação?
A DUQUESA — Pensareis então diversamente, senhor Alcoforado. Eu porém, vos não quero demorar; deveis partir precipitadamente se quereis partir.
ALCOFORADO — Partirei amanhã, senhora duquesa.
A DUQUESA — Talvez seja tarde!
ALCOFORADO — Com bem ânsia me quereis longe de vós, senhora!
A DUQUESA — Ouvi. Disse-me o senhor duque que vos prometesse o que me aprouvesse, que ele guardaria a minha palavra. O que quereis vós?
ALCOFORADO — Nada, senhora duquesa.
A DUQUESA — Nada! Refleti bem. O vosso arrependimento seria tardio, ou a demora vos poderia prejudicar. Que posto quereis no exército?
ALCOFORADO — Nada, nada quero, e contudo... senhora duquesa, poderia eu pedir-vos mercê mais especial?
A DUQUESA — Falai.
ALCOFORADO — Julgais na vossa consciência que me deveis um serviço, não é assim?
A DUQUESA — A vida, senhor Alcoforado; e somos bem feliz em o poder confessar altamente.
ALCOFORADO — Pois bem, um serviço feito a vós, sois vós quem o deveis galardoar, não é verdade? E de feito, que tenho eu com o senhor duque?
A DUQUESA — Concluí, senhor. ALCOFORADO — Dizei mais. O homem que arriscou a sua vida só por amor de vos salvar, e que não esperou pelo vosso agradecimento, nem sequer por uma palavra vossa, que todavia ele quisera escutar, mesmo a troco de seu sangue, julgais que seja capaz de vos faltar com o acatamento que vos é devido?
A DUQUESA — Não o cremos; mas...
ALCOFORADO — Ainda uma palavra. E se não julgais que ele vos possa faltar ao decoro podereis julgar que ele queira abusar da vossa gratidão ou arriscar a vossa honra?
A DUQUESA — Em a vossa consciência, senhor Alcoforado, que vos temos por um mancebo lhano e cortês, incapaz de faltar com o respeito às donas, de as ofender por gestos ou ações, ou de sacrificar a sua honra a um capricho irrefletido. Concluí. Que vos podemos nós fazer que seja recompensa de favor tamanho?
ALCOFORADO — É uma entrevista que vos peço.
A DUQUESA — Uma entrevista!
ALCOFORADO — Sim: uma hora, um instante em que eu vos possa, sem testemunha e sem temor de ser escutado, dizer-vos tudo quanto sinto, tudo quanto sofro, e partirei, esperançoso senão feliz, resignado senão contente. Será a última vez que nos veremos, senhora duquesa, a última, e não mais ouvireis falar de mim!
A DUQUESA — E não estamos a sós?
ALCOFORADO — Mas posso ser interrompido de momento a momento;
e que o não pudesse! Quando o homem sofre como eu sofro, é-lhe preciso morder com força os lábios entre os dentes para não emitir um som... e ai dele!
se deixa escapar um gemido, porque depois dos gemidos virão os gritos, e depois dos gritos a desesperação!... Concedei-me a entrevista, senhora duquesa;
não ouvireis da minha boca uma só palavra que vos faça corar, nem um só gesto que vos possa ofender; eu vo-lo juro; é só para que vejais as lágrimas que eu tenho, as dores que eu padeço, e para que vos compadeçais de mim!... Oh!
senhora, é de joelhos!...
A DUQUESA — Levantai-vos, levantai-vos... Esta manhã quase que vos surpreenderam a meus pés. Meu Deus! Que terror que eu tenho! ALCOFORADO — Vede!... Dizeis que estamos a sós, e toda vos atemorizais por cair eu a vossos pés.
A DUQUESA — Não seria isso imprudência?
ALCOFORADO — Muito prudente sois vós, senhora duquesa! Quando o meu sangue corresse em ondas sobre o soalho da vossa habitação, fora prudência, e até delicadeza, mandar limpá-lo bem depressa para que os vossos pés se não manchassem nele.
A DUQUESA — Sois injusto!
ALCOFORADO (Despeitoso.) — Serei, senhora.
A DUQUESA — Não percebeis vós que a prudência é para mim um dever?
ALCOFORADO — E também para o homem; contudo, se eu só houvesse consultado a prudência, não teria há pouco arremessado o meu venábulo, porque em vez de vos salvar poderia errar o tiro e atravessar-vos com ele; se eu houvesse consultado a prudência, não me teria interposto entre vós e o javali, porque o javali poderia espedaçar-me; se eu houvesse consultado a prudência... oh! não me teria em corpo e alma dedicado a uma pessoa de alta nobreza, que eu sei que não tem amor senão aos seus títulos, que não tem olhos senão para as suas louçanias.
A DUQUESA — Insensato, julgais que é o medo que me faz prudente, e que é por atenção a mesquinhezas que vos não estendo a mão caroável e benfazeja quando vejo que sofreis e que careceis de mim!... Já pouco prudente tenho eu sido mostrando-vos por vezes que me não sois inteiramente indiferente... bem pouco prudente, senhor Alcoforado! Porque um volver de olhos, um sinal mais expressivo, uma proteção decidida da minha parte vos abriria a sepultura mais depressa do que o podeis imaginar. D. Jaime é cioso; o seu orgulho tem olhos de lince, a sua cólera é terrível, e a sua vingança é estrepitosa como o trovão, e fulminante como o raio. Se a menor suspeita lhe atravessasse o espírito... faríeis bem em cair de joelhos e pedir a Deus perdão das vossas culpas.
ALCOFORADO — Tempo foi na minha infância em que, acordando pelo meio da noite, sentia verdadeiro terror quando escutava no silêncio das trevas o estrídulo de alguma ave noturna; hoje, porém, os seus pios agoureiros rebentam-me por baixo dos pés e eu vos confesso que os escuto sem sobressalto nem terror. A DUQUESA — Dizem contudo que há às vezes nesse canto um anúncio de morte.
ALCOFORADO — Seja embora; porém a morte não aterra senão a quem não está afeito a lidar com os seus terrores: eu desde a infância que os experimento.
A DUQUESA — Então, senhor, apesar de tudo...
ALCOFORADO — Eu vo-lo suplico!
A DUQUESA — Vereis que não sou medrosa. Paula vos transmitirá o que eu houver determinado; porém lembrai-vos... lembrai-vos que à vossa honra me confio, e que eu me escudarei com a vossa proteção. (Vai-se.)
CENA IX
ALCOFORADO (Só.) — Confia na tua inocência e na palavra de um homem honrado que daria a sua vida para te poupar um desgosto.
FIM DO SEGUNDO QUADRO E
DO PRIMEIRO ATO ATO SEGUNDO
QUADRO TERCEIRO
A cena representa uma sala modesta em casa do velho Alcoforado.
CENA I
MANUEL, ALCOFORADO
MANUEL (Sentado.) — Eis a terceira vez que te faço a mesma pergunta e ainda me não respondeste.
ALCOFORADO — Ah! Falavas comigo?
MANUEL — Pois com quem havia eu de falar? Pergunto-te o que tens.
ALCOFORADO — Nada tenho, irmão; estou um pouco preocupado.
MANUEL — Bela resposta!... Isso vejo eu. Com o quê? É o que te eu pergunto.
ALCOFORADO — Com a minha partida. Não sei como terei forças para me separar de tantas afeições que deixo atrás de mim, e que talvez não tornarei a encontrar.
MANUEL — Não te dê isso cuidado. Nós somos novos, tu, eu e nossa irmã; nosso pai é que é um pouco velho, porém ainda robusto, e espero em Deus que nos enterrará a todos um por um.
ALCOFORADO — E crês que para o homem morrer careça de ser velho?
MANUEL — Se não é, parece. O que eu sei é que em teu lugar estaria bem contente por ir tão novo ganhar as minhas esporas... Sabes tu um receio que eu tenho?
ALCOFORADO — Qual? MANUEL — O de não ter forças quando for homem para usar daquelas longas espadas de que usam os cavaleiros de el-rei. Não o digas a ninguém, menos ainda a Laura, que senão a travessa me não deixará descansar.
ALCOFORADO (Distraído.) — Terrível pressentimento!...
MANUEL — Aí o temos outra vez.
ALCOFORADO — Quem poderá aventar o segredo desta entrevista?
Ninguém o ouviu, ninguém o sabe; só Rozeimo que me trouxe a missiva de Paula. Rozeimo é fiel: que posso eu temer?
MANUEL — Já me estou impacientando.
ALCOFORADO — A noite vai escura e feia!
MANUEL — Ainda mais feia te há de parecer.
ALCOFORADO (Vivamente.) — Que dizes?
MANUEL — Quando os dobres começarem...
ALCOFORADO — Que dobres? Que dizes tu?
MANUEL — De que te espantas?... Não é amanhã o dia de finados?
ALCOFORADO — Tens razão (Pensativo.) Ainda outro mau agouro!
(Momento de silêncio). Irmão, és tu corajoso?
MANUEL — Homem, eu creio que sim; porém com certeza que tens muito mais coragem do que eu, que também para isso és o mais velho.
ALCOFORADO — Se pois me acontecesse algum desastre?
MANUEL — Onde? Lá na África?
ALCOFORADO — Se aqui, se hoje, por exemplo, me acontecesse algum desastre, não terias tu a coragem de esconder as tuas lágrimas para não afligir com elas o nosso bom pai?
MANUEL — Estás hoje sombrio, irmão! ALCOFORADO — Pois não terias tu coragem para isto?... Não acompanharias o nosso velho pai até a sepultura, não ampararias com desvelos e solicitudes a nossa boa irmã, que tanto precisa da proteção de nós todos?... Não serias bom filho e bom irmão, a ponto de que ambos se esquecessem de que eu tinha existido?
MANUEL — Posso-o eu porventura?... Nosso pai é robusto; porém quem sabe quanto o abateria a dor de te haver perdido, a ti sobre quem ele esteia a sua velhice?... Nossa irmã Laura, jovem e formosa que te ama sobre tudo, porque és o nosso irmão mais velho, sentiria profundamente perder-te; quem sabe o que seria dela?... Eu mesmo, terei coragem porventura quando me faltares ou quando te houver perdido para sempre?
ALCOFORADO — Assim pois, um desastre que me sobreviesse os abalaria a todos, e talvez algum caísse sobre o meu sepulcro.
MANUEL — Meu Deus! Que pensamentos são esses?... Estás bom, partirás amanhã, e falas em morrer hoje?
ALCOFORADO — Como estas horas se arrastam vagarosas!...
(Chegando-se à janela.) O céu está coberto de nuvens; a noite vai escura e medonha.
MANUEL — Felizmente que estamos em casa, porque talvez tenhamos alguma tempestade.
ALCOFORADO — Não no céu; na terra, talvez.
MANUEL — Estás-me causando medo.
ALCOFORADO — Irmão, se meu pai se demorar, partirei sem vê-lo; tu lhe pedirás a sua bênção por mim, que porventura carecerei dela.
MANUEL — Vais sair?
ALCOFORADO — Sim, a uma devoção.
MANUEL — Ah! Vejamos!... Gibão de fustão prateado, colar e pontas de veludo roxo, calças vermelhas, cinta de couro preto com guarnição de prata, borzeguins... não, não são esses os vestidos de quem vai à noite lançar-se aos pés do altar. Enganas-me, Antônio; é outra a tua devoção. ALCOFORADO — Será: mas não me interrogues, que nada te poderei dizer.
MANUEL — Atende: a noite vai escura, bem o viste: alguma cilada te podem armar. Leva contigo o nosso velho criado.
ALCOFORADO — Não; ele pode demorar-se.
MANUEL — Se ele se demorar, sairei contigo.
ALCOFORADO — Não: é um segredo que não deves saber.
MANUEL — Leva ao menos a tua espada.
ALCOFORADO — Não a levarei.
MANUEL — A minha espada é fiel, o sangue ainda a não enferrujou; a sua folha ainda me não traiu. A tua espada ou a minha... escolhe.
ALCOFORADO — Não levarei a tua espada, não levarei a minha.
MANUEL — É favor que te peço: quero que a minha espada te acompanhe uma noite, a derradeira que passarás conosco; será essa a lembrança que me deixarás por despedida. Tu a levarás.
ALCOFORADO — E ta restituirei tão pura como sair das tuas mãos. Vai por ela.
MANUEL — Então espera-me!
ALCOFORADO — Esperarei. (Manuel sai.)
CENA II
ALCOFORADO (Só, sentando-se.) — Hoje enfim eu a verei sozinha!
Talvez que ela por um instante se dispa dos seus preconceitos de orgulho e de nobreza para ouvir as palavras singelas do mancebo que a tão alto ousou elevar o seu pensamento; talvez que ela enfim se compadeça dos meus sofrimentos, sofrimentos terríveis que eu tenho suportado sem murmurações, sem lágrimas.
As murmurações poderiam despertar algum eco e as lágrimas trair-me!... Dirlhe-ei tudo, e depois que me assassinem, que me assassinem aos pés dela, se o quiserem, que eu a bendirei morrendo. (Torna-se pensativo.) CENA III
ALCOFORADO, o VELHO ALCOFORADO
O VELHO ALCOFORADO — Antônio!
ALCOFORADO (Levantando-se.) — Meu pai! (Beija-lhe a mão.)
O VELHO ALCOFORADO — Em que pensáveis, filho?
ALCOFORADO — Em vós, meu pai, em os meus irmãos, nas pessoas que me estimam, naqueles que eu amo, nesta casa em que nasci, enfim, em tudo que vou deixar, e que talvez não encontre, mesmo se a morte me não colher por lá.
O VELHO ALCOFORADO — Se por lá morrerdes, meu filho, eu sofrerei tanto como quando vossa mãe nos deixou sozinhos na vida para ir gozar a bem-aventurança dos céus. No entanto, eu vô-lo digo, estimarei mais a morte do meu filho que morrer pela sua pátria, do que a vida tranqüila do homem que vive sem nome, e que morrerá sem glória. Grandes são os vossos deveres, Antônio, que também para isso sois nobre.
ALCOFORADO — Meu pai!
O VELHO ALCOFORADO — Sim, mancebo; sois nobre, nobre com a nobreza aqui da terra e nobre com a nobreza da alma que é a melhor de todas, porque diretamente nos vem do senhor. Comprazo-me em pensar que sereis sempre digno do vosso nome e que os vossos feitos terão sempre o cunho da ação que hoje praticastes — ardimento e dedicação.
ALCOFORADO — Não falemos nisso, senhor.
O VELHO ALCOFORADO — Pois em que havemos nós de falar?
Quando errais, eu vos digo bem severamente que errais e que nisso fazeis mal;
porém quando praticardes bem, também vos direi com a sinceridade de um amigo e com a complacência de um pai que vos portastes bem, e que vos estimo pelo bem que praticastes; nem quero que com isto vos vanglorieis, que vos não gabo a vós quando aprecio uma virtude. Antônio, é bem doce ao velho, que lentamente caminha para a sepultura, parar de vez em quando para derramar os olhos obscurecidos sobre o caminho que ele decorreu na vida, e ver seus filhos que prometem honrar o seu nome e consolar a sua velhice. Sim, meu filho, eu vos digo que quando hoje arriscastes impavidamente a vossa vida para salvar a esposa do vosso protetor, fizestes como faria o vosso velho pai quando ele tinha a vossa idade, e sentia o sangue que lhe girava nas veias. (Momentos de silêncio.) Que vos disse o senhor duque?
ALCOFORADO — Escreveu algumas cartas para os fronteiros de África e capitães do exército do ultramar.
O VELHO ALCOFORADO — Agradecestes: não foi assim?
ALCOFORADO — Sim, meu pai. Rendi-lhe ações de graças, tanto pelas que ele teve a bondade de escrever, como pela que eu me atrevi a aceitar.
O VELHO ALCOFORADO — Como! Pois recusastes alguma?
ALCOFORADO — Todas, menos a que em meu nome pedia um posto arriscado e perigoso que só pudesse ser confiado à lealdade de um homem valente e resoluto.
O VELHO ALCOFORADO — Fizestes bem e... talvez fizestes mal. Eu amo a juventude ardida e corajosa que só põe a sua confiança em Deus e na sua espada; mas a juventude é inexperiente; e ela não sabe que neste mundo nada se faz sem proteção: era este o ditado de nossos avós, que também será o dos nossos netos. Que fareis vós sem ela, encontrando a cada passo estorvo e dificuldades? Ela nos é precisa; não para que sobremaneira se exaltem os nossos serviços, mas para que eles sejam devidamente avaliados. É para o que serve aquela proteção que é impetrada sem baixeza e nobremente concedida. No entanto não vos repreenderei: fizestes bem.
CENA IV
OS MESMOS, LAURA
LAURA — Enfim, eis-me aqui!
O VELHO ALCOFORADO — Boa noite, Laura.
LAURA — A vossa bênção, meu pai.
O VELHO ALCOFORADO — Deus te abençoe, filha. Pois saíste a desoras sozinha?
LAURA — Levei comigo a velha Marta e o nosso velho criado nos acompanhava. O VELHO ALCOFORADO — E onde foste?
LAURA — Primeiro à sepultura de minha mãe!
O VELHO ALCOFORADO — Boa filha! Não te esqueceste que amanhã é o dia de finados! E depois?
LAURA — Fui visitar as minhas amigas para lhes dizer que o nosso Antônio se partia amanhã. Talvez me demorasse mais tempo; mas como pensei que estáveis cá sem mim, voltei mais que depressa para a vossa companhia.
O VELHO ALCOFORADO — E Deus sabe quão pesada me seria a velhice sem ti, minha Laura! Os meus ouvidos já se afizeram a ouvir a tua voz afetuosa e os meus olhos descansam com prazer sobre o teu rosto. És boa filha, Laura.
LAURA — Sois vós que sois bom pai!
O VELHO ALCOFORADO — E por que não bom amigo?
LAURA — Oh! E um amigo bem indulgente... Não dizes nada, Antônio?
ALCOFORADO — Que te direi eu, minha irmã?
LAURA — Não ouvis que pergunta é aquela, meu pai? O que me dirás tu? Que tens muita pena de nos deixar, e que voltarás bem depressa para a nossa companhia.
ALCOFORADO — Boa irmã! Sentirás muitas saudades minhas?
LAURA — Muitas. (Mais baixo.) Antônio, não sejas temerário; não morras por lá!
ALCOFORADO — Terias muito pesar?
LAURA — Talvez te não sobrevivesse.
O VELHO ALCOFORADO (Severo.) — Laura!
LAURA (Ajoelhando-se.) — Perdão! O VELHO ALCOFORADO — Só o pobre velho é que não precisa de nenhum dos seus filhos bem amados que lhe cerre os olhos na sua hora derradeira!
LAURA — Perdão, meu pai! Vós sois forte e prudente, e não sofrereis com a morte de dois dos vossos filhos que se esquecerem de vós para só cuidar de si.
O VELHO ALCOFORADO — Ingrata! De que me servirá a minha prudência contra o esquecimento de meus filhos?... De que me servirá a minha força quando não fordes todos em redor de mim, vós que fortaleceis a minha velhice e que sois a minha só consolação?... Porém de que me queixo eu?... O
bom filho é aquele que trata a seu pai com respeito; que o não ame, pouco importa.
ALCOFORADO — Sois injusto, meu pai!
O VELHO ALCOFORADO — Tendes razão, Antônio; eu me esquecia de vós. Seja Deus louvado, que ainda tenho um filho!
LAURA — Meu pai, olhai para as minhas lágrimas, e vede se elas vos não merecem compaixão.
O VELHO ALCOFORADO — Eis-me a chorar como uma criança.
Levanta-te, filha: o pobre velho tresvariou com as vossas palavras loucas e fui injusto para contigo. Tu és uma boa filha e amas bem a teu pai!
LAURA — De todo o meu coração.
O VELHO ALCOFORADO — E em todo tempo te hás de lembrar que ele precisa da tua vida nos poucos dias que lhe restam para vegetar sobre a terra.
Não é assim?
LAURA — Sim, bom pai.
O VELHO ALCOFORADO — Deus foi misericordioso para comigo!
Ledo e tranqüilo, são de corpo e de espírito, vou caminhando para a eternidade acalentado pela voz de meus filhos. O prazer que desfruto é precursor da vida celeste e a minha velhice é a aurora da bem-aventurança. Louvado seja o Senhor! CENA V
OS MESMOS, MANUEL
MANUEL — Eis a espada, meu irmão. Boas noites, Laura.
LAURA — Boas noites, irmão.
MANUEL — A vossa bênção, meu pai.
O VELHO ALCOFORADO — Deus vos abençoe. Trocastes a vossa espada?
MANUEL — Não, meu pai, empresto-a.
O VELHO ALCOFORADO — Como! Pois ides sair, Antônio?
ALCOFORADO — Sim, meu pai: estava só à espera da vossa bênção e da vossa permissão.
O VELHO ALCOFORADO — Ides...
ALCOFORADO (Hesitando) — Vou...
O VELHO ALCOFORADO — Concebo a vossa hesitação. Como é amanhã o dia de finados, ides orar pelos mortos, como é de um bom cristão.
ALCOFORADO — Não, senhor!
O VELHO ALCOFORADO — Não!... Ah! Sim!... Como sois bom filho ides talvez antes de vos partirdes, orar sobre a sepultura de vossa mãe.
ALCOFORADO — Não, senhor!
O VELHO ALCOFORADO — Não!... Ah! bem. Como sois bom amigo, ides talvez despedir-vos dos vossos amigos.
ALCOFORADO — Não, senhor.
O VELHO ALCOFORADO — Não! Então a que saís?
ALCOFORADO — Não me interrogueis, meu pai! O VELHO ALCOFORADO (Com desconfiança.) — Ides sozinho?
ALCOFORADO — Sozinho.
O VELHO ALCOFORADO — E não quereis levar o nosso criado na vossa companhia?
ALCOFORADO — Não o posso levar.
O VELHO ALCOFORADO — Pois eu vos digo que não saireis sem que me digais primeiro o que vos obriga a sair.
ALCOFORADO — Peço-vos que me não interrogueis, meu pai.
O VELHO ALCOFORADO (Levantando-se.) — Que vos não interrogue!... Pretendeis sair a desoras e sem testemunhas, de espada e com os vestidos concertados, e não quereis que vos interrogue!... Onde ides vós, senhor?
ALCOFORADO — Eu vo-lo suplico.
O VELHO ALCOFORADO — Oh! Isto merece uma explicação. Retiraivos.
CENA VI
O VELHO ALCOFORADO, ALCOFORADO
O VELHO ALCOFORADO — Vede a que me obrigam os vossos mistérios, que oxalá não sejam escandalosos!... Fazeis que um pai expulse seus filhos da sua presença porque ele terá talvez de vos dizer algumas dessas rígidas verdades que por eles não devem ser ouvidas. Onde ides, mancebo?
ALCOFORADO — Senhor, não o posso dizer.
O VELHO ALCOFORADO — Vós não ides cumprir com os deveres de amigo, nem de filho, nem de cristão; ao que ides pois? Passar talvez a noite em algum lupanar, ou sobre a banca do jogo, ou em orgias de homens intemperantes e envilecidos, ou escalar algum muro como ladrão noturno para roubar a honra de alguma família honesta, ou bater sorrateiramente a alguma porta humilde para pagar a recepção cordial que durante o dia vos fez algum homem honrado e franco com a traição de um libertino. É infame! ALCOFORADO — Meu pai!
O VELHO ALCOFORADO — Dizei, senhor, dizei na vossa consciência que não ides praticar alguma ação criminosa.
ALCOFORADO — Em consciência não o sei.
O VELHO ALCOFORADO — Sei-o eu, senhor!... Sei que o homem que marcha treda e cautelosamente apalpando as trevas, e que não ousa confessar altamente as suas ações, muito se assemelha àquela ave de mau agouro, cujos olhos não podem suportar a luz do dia, cujo canto é um anúncio de desventura;
sei que tão grande mistério pode encobrir uma virtude muito preclara, ou um vício muito vergonhoso. Dizei que ides praticar uma dessas virtudes cobertas com o precioso manto da modéstia, diáfano para Deus, impenetrável para os homens.
ALCOFORADO — Nunca vos menti, senhor.
O VELHO ALCOFORADO — E, se o houvésseis feito, a Providência Divina que vos guiasse no caminho da vida, porque teríeis morrido para mim.
Talvez me julgueis severo por me crerdes pouco sensível, ou por supordes talvez que o tempo, que gelou o sangue nas minhas veias, já me fez esquecer da quadra em que fui da vossa idade, em que também fui novo e cheio de esperanças na vida, e em que também dizia comigo o que agora lá vós estais dizendo convosco: — além, naquele marco deixarei este caminho e tomarei outra vereda. Não; sou indulgente e pouco severo a ponto de vos confessar que também fui novo, e que alguns erros cometi quando tinha a vossa idade. Pois quem é perfeito neste mundo? — Mas eu vos asseguro que a minha vida escrita, conquanto em parte me pesasse dela, não me traria um só remorso, nem me desconceituaria a minha velhice: asseguro-vos ainda que, em vésperas de um dia duas vezes santificado pela religião e pelo sentimento, nunca abandonei eu o teto de meus pais, como homem sem crença e filho pouco respeitoso, para me entregar às carícias de uma criatura sem pejo. Há limites em tudo, mancebo.
ALCOFORADO — Senhor, por que me supondes capaz de tão negro feito, ou por que vos mereço tal conceito? Acaso me tenho eu mostrado revel aos vossos conselhos, ou terei desaprendido as vossas lições? Não, senhor: se não vou praticar uma virtude, também não é o vício nem o crime quem lá fora me está chamando. Não é criminosa a ação que vou praticar; juro-vos...
O VELHO ALCOFORADO — Jurai, senhor, jurai! No meu tempo o homem que ambicionava uma espada, ou que já a podia trazer consigo, tinha o juramento por uma coisa veneranda e sagrada, e usava dele apenas nas circunstâncias de momento. Era o vassalo que jurava lealdade a seu rei; era o cidadão que jurava amor à sua pátria; era o guerreiro que jurava morrer com o seu companheiro de armas. Por isto o juramento era entre eles uma religião e os mais altos como os mais humildes não se atreviam a quebrá-lo. Hoje, porém, fizeram dele uma fórmula para os usos da vida, e a criança desde o berço aprende a balbuciar essa palavra vazia de sentido, que noutro tempo foi símbolo de fé e era condão de prodígios.
ALCOFORADO — Como vos poderei eu confiar um segredo que me não pertence? Há bem tempo que vo-lo teria dito, se ele fosse todo meu, e se a minha confissão a ninguém mais comprometesse. Eu vos respeito como meu pai, eu vos amo como amigo, eu vos estimo como homem probo e cheio de integridade; sei que é impossível trairdes um segredo: mas devo eu traí-lo primeiro? Aconselhai-me, vós que tendes experiência da vida: dizei-mo, vós que sois meu mestre; posso eu fazê-lo?
O VELHO ALCOFORADO — O segredo é inviolável; tendes razão.
ALCOFORADO — Deixai-me então sair, bom pai. Oh! Se soubésseis quanto sofro por vos não poder confiar tudo!... sede indulgente mais uma vez, talvez a derradeira. Esta demora me tem martirizado; largos anos tenho vivido nestes curtos instantes! Deixai-me partir.
O VELHO ALCOFORADO — E não há perigo?
ALCOFORADO — Nenhum, nenhum! Eu vo-lo asseguro.
O VELHO ALCOFORADO — E aquela espada?
ALCOFORADO — Foi um capricho de meu irmão que não sabe a que vou. Dir-lhe-ia um segredo que vos não digo a vós? Bem vedes que nada arrisco: deixarei a espada, e é até melhor que eu vá desarmado.
O VELHO ALCOFORADO — Levarás a espada!
ALCOFORADO — Bom pai, quanto vos agradeço!
O VELHO ALCOFORADO — Vai, e Deus seja contigo.
ALCOFORADO — Irei e voltarei bem depressa. (Cingindo a espada.) —
O mais depressa que eu puder. Vereis que nada me acontece. Meu Deus! Como partiria eu tão alegre, se de alguma coisa me arreceasse! O VELHO ALCOFORADO — Vai, meu filho.
ALCOFORADO — Nada receeis. Adeus, bom pai. (Vai-se.)
O VELHO ALCOFORADO (Ficando pensativo: alguns dobres ao longe.) — Meu filho! meu filho!...(Vai-Se.)
CENA VII
Uma câmara no palácio do duque O DUQUE (Entrando desalinhado e com os cabelos em desordem.) — O
javali esteve a despedaçá-la... O venábulo roçou-lhe o rosto... e eu vejo ainda o cadafalso de meu pai!... Crime ou fatalidade, um deles me está iminente; mas qual? Isto não é superstição, é um presságio, uma intuição do futuro. Vejo o relâmpago, o raio não tardará a cair... mas sobre quem?... Por quê?... não o sei, mas é inevitável!... Oh! Venha embora o azar maldito, que não será pior que esta ansiedade!...
CENA VIII
O DUQUE, FERNÃO
FERNÃO (Da porta, com uma carta) — Senhor duque!
O DUQUE — Entrai, Fernão, (Senta-se.)
FERNÃO — Senhor, que tendes vós?
O DUQUE — Nada: dai cá. (Lê a carta e atira-a sobre a mesa.) El-rei nos concede os dízimos do pescado em Lisboa e não sei em que outras terras:
para que os quero eu?
FERNÃO — É uma indenização do que tão desgraçadamente sofreu o senhor vosso pai, e do que vós mesmo haveis sofrido na vossa fazenda.
O DUQUE — Velho, não assististes a meu pai no seu derradeiro instante?
FERNÃO — Fui eu, senhor: não vos contei já essa história? O DUQUE — Sim; eu, porém, gosto de recordar dessa desgraça para adormecer a minha dor com o excesso do sofrimento. Meu pai, moço, nobre, leal e valente, foi decapitado e exposto no cadafalso como se fosse um miserável! Fernão, conheceis alguém mais desditoso?
FERNÃO — Vós, senhor.
O DUQUE — Eu! Que sabeis vós?
FERNÃO — Senhor, eu vos hei servido leal e fielmente. Quando vosso pai ouviu a sua sentença, tomou-me à parte e me fez jurar que eu vos salvaria a custo da minha própria vida. Quando acabaram de cometer aquela sangüinolenta injustiça, fui buscar-vos, e com vosso irmão fugimos, e caminhamos noite e dia. Foi somente quando pisamos a terra hospitaleira de Espanha que eu tive lágrimas para chorar, e algumas palavras para vos dizer.
O DUQUE — Sois fiel, Fernão.
FERNÃO — Depois disso eu vos tenho sempre acompanhado no desterro como na opulência, e nunca vos pedi prêmio, nem sequer minguado, não de serviços relevantes, mas dos longos anos que vos hei servido.
O DUQUE — Sois fiel e desinteressado, Fernão, mais amigo do que servo. Mas o que quereis com isso?
FERNÃO — Assim pois, senhor, se me escapar algumas palavras incompatíveis com o respeito que vos é devido, vós desculpareis a franqueza do velho, que vos respeita como a seus senhor, e... perdoai-lhe, que vos ama como a seu filho!
O DUQUE — Falai! Falai!
FERNÃO — Eu vo-lo direi de joelhos para que me perdoeis o arrojo do vosso servo. Senhor, não é bem desgraçado o nobre traído na sua honra?
O DUQUE — Vossas palavras são profundas e contadas, vós sois prudente e cauteloso: eu vos escuto!
FERNÃO — Senhor, não confiastes a alguém a vossa honra?
O DUQUE — A ninguém. Somos o primeiro a velar sobre ela, e não a fiamos de ninguém. FERNÃO — Senhor, não a confiastes a alguém?
O DUQUE — A ninguém!... Ah! (Levanta-se, batendo com a mão na testa e agarrando no braço de Fernão.) — Que sabes tu da duquesa?
FERNÃO — Sede prudente, senhor, eu vô-lo suplico.
O DUQUE — Fala!
FERNÃO — Não vos arrebateis, senhor; ouvi-me primeiro.
O DUQUE — Fala!
FERNÃO — Oh! Que bem me arreceava eu de vos confiar este segredo!
O DUQUE — Fala, carrasco!
FERNÃO — Eu vo-lo direi. O pajem que esta manhã foi anunciar a vossa visita à senhora duquesa, encontrou Alcoforado a seus pés.
O DUQUE — Outra prova!
FERNÃO — O vosso rosto me atemoriza!
O DUQUE — Continua!
FERNÃO — O senhor Alcoforado traz no barrete um laço da fita que a senhora duquesa costumava trazer ao colo.
O DUQUE — Eu a vi! Fui eu quem lha dei. (Ouve-se o dobre ao longe.)
Abre aquelas janelas.
FERNÃO — Senhor, a noite vai fria.
O DUQUE — Abre-as; gosto daqueles sons. (Fernão vai abrir as janelas.) E eu o elogiei diante dela! Muitas vezes o chamei à sua presença! E
ainda hoje!... Que sabes mais?
FERNÃO — Rozeimo, o pajem da senhora duquesa, levou-lhe hoje uma carta.
O DUQUE — Morte e sangue! FERNÃO — Senhor! Senhor, sede corajoso; não vos deixeis arrebatar pela vossa cólera, pesai a vossa justiça. A carta era de Paula!
O DUQUE — Algoz, e que me importa Paula?
FERNÃO — O pajem assim o julgou, e abriu-a indiscretamente. Dizia a carta que à meia-noite uma corda estaria pendente do balcão da senhora duquesa.
O DUQUE — Estúpido! Estúpido! Estúpido!
FERNÃO — Senhor! Senhor!
O DUQUE — Julguei-o leal, porque era novo; julguei-o generoso, porque o vi arriscar a vida, e não conjecturei logo que se não arrisca a vida por generosidade!... Chama esse pajem!... Não... não... (Com voz rouca.) Seria divulgar a minha vergonha!
FERNÃO — Senhor, as minhas palavras não são evangelho; pode ser que me iludissem: moderai-vos!
O DUQUE — Nasceste em minha casa, acompanhaste a meu pai na sua última hora, acompanhaste-me no meu desterro, e encaneceste no meu serviço;
pois juro-te que, se esta noite o infame não for encontrado neste palácio, morrerás como um cão!
FERNÃO — Ele virá, senhor.
O DUQUE — Virá!... Tu me insultas, velho!
FERNÃO — Perdão! Perdão!
O DUQUE — O cobarde! O cobarde!
FERNÃO — Vós empalideceis, senhor; as vossas mãos estão frias!...
O DUQUE — Não te importes. Escuta. Eu posso morrer antes da meianoite...
FERNÃO — Não digais tal, senhor. O DUQUE — Escuta. Encobre a minha morte, distribui gente armada pelo parque; deixem-no entrar: entrado ele, toma as saídas; tomadas elas vai ao quarto da duquesa, arromba as portas, assassina-os, assassina-os!
FERNÃO — Senhor, eu vo-lo peço de joelhos: não me obrigueis a cometer um crime no fim da minha velhice.
O DUQUE — É justiça; jura que o farás.
FERNÃO — Senhor, é justiça tomada por vós, mas não tomada por mim!
O DUQUE — Jura, ou eu te apunhalo!
FERNÃO — Eu o juro!
O DUQUE — Vai. (Fernão sai.)
CENA IX
O DUQUE (Só) — Eu estava sufocado! (Corre a um armário, tira algumas armas que arroja sobre a mesa.) Sangue!... Sangue!... Sangue (Cai.)
FIM DO ATO SEGUNDO E DO
TERCEIRO QUADRO ATO TERCEIRO
QUADRO QUARTO
A cena representa a câmara da duquesa: um leito de cortinados, cadeira e mesa.
CENA I
PAULA (Só, entrando com uma luz.) — Ainda não veio!... Com efeito, para um namorado é ser bem esquecido. Ah! Se fosse comigo, eu lhe cantaria uma ladainha bem comprida para o ensinar a ser descortês com senhoras.
(Chegando-se à janela.) Como está escura a noite. (Recuando.) Jesus Senhor!...
Parece-me que vi lampejo de armas por entre as folhas do bosque. (Observando de novo.) Já nada vejo!... Foi ilusão. (Fecha a janela.)
CENA II
A DUQUESA, PAULA
A DUQUESA — Ainda não veio?
PAULA — Não, senhora duquesa; e todavia é quase meia-noite!
A DUQUESA — Está bem. Vê se todos descansam no palácio.
PAULA — Nada mais quereis de mim?
A DUQUESA — Nada mais. (Paula sai.)
CENA III
A DUQUESA (Só, sentando-se.) — Alcoforado tem alma de fogo; porém é respeitoso e comedido! Pobre moço!... Quis dizer-me adeus sem que nos vissem, e partirá feliz com a idéia de que por ele me interesso. Podia eu fazer menos em favor de quem tão generosamente me salvou a vida? Não... Mas talvez fui imprudente. CENA IV
A DUQUESA, ALCOFORADO (Saltando pela janela.)
A DUQUESA (Assustada.) — Ah!
ALCOFORADO (Fechando a janela.) — Sou eu, senhora, não vos assusteis.
A DUQUESA (Sentando-se.) — Vindes armado!
ALCOFORADO — Nada receeis da minha espada, senhora duquesa! Foi um capricho de meu irmão e uma ordem de meu pai que me obrigaram a trazêla. (Põe a espada sobre a mesa.) Permiti-me, senhora, que eu vos agradeça bem sincera, bem cordialmente o sacrifício que hoje por mim fizestes. Favor tão grande não vos posso eu pagar com palavras, nem o meu sangue, todo que fosse, bastaria para o resgatar.
A DUQUESA — Está bem, senhor.
ALCOFORADO — Deixai que vos diga tudo quanto me inspira o meu reconhecimento para que não fiqueis julgando que abrigastes a um ingrato.
Depois que condescendestes com o meu pedido, e quando me partia da vossa presença, aventei todo o perigo que nesta entrevista podia haver para vós, que eu por mim nada receio; e eu vô-lo confessarei, pasmei do meu desmarcado arrojo em vô-la pedir, e admirei-me da vossa muita bondade em ma concederdes, quando me poderíeis ter feito expulsar da vossa presença como um louco, e de feito eu o era; porém certo que, se me negásseis esta graça, eu me haveria por mui desgraçado, por mui digno de lástima e de compaixão.
A DUQUESA — Deixemos isso, senhor; partireis sempre amanhã?
ALCOFORADO — Partirei amanhã: irei espalhar as minhas mágoas por terras longínquas; irei por clima estranho em busca de um nome que algum dia possais pronunciar como o de um amigo, que não como o de um servo.
A DUQUESA — Senhor!
ALCOFORADO — De um servo, sim. Para vós, filha do primeiro duque de Espanha, mulher do primeiro duque de Portugal, o que é um moço fidalgo que está ao serviço da vossa casa? Julgais acaso que eu não tenha pensado nestas coisas durante muitas horas, durante noites bem compridas? Pois em verdade vos digo, senhora, que eu tenho muitas vezes amaldiçoado a minha estrela que me fez nascer tão baixo, quando a sorte vos colocou tão sobranceira aos outros, que o meu nome, por muito famigerado que venha a ser, jamais não poderá ser equiparado ao vosso. É desdita; mas de que vale queixar-me?
A DUQUESA — Não vos compreendo, senhor!
ALCOFORADO — E fora maravilha que me compreendêsseis!... Falarvos-ei pois claramente. Bem sabeis que eu parto amanhã; o que, porém, vós não sabeis é que desde criança um pensamento fatal se enraizou profundamente na minha alma. Não viverei muito! A outra por certo não diria eu isto, que se riria da minha credulidade; digo-vos, porém, a vós, porque vos falo sem rebuço e porque quero que leiais na minha alma como em um livro aberto, que podeis folhear à vontade. Partirei e não voltarei mais.
A DUQUESA — Temos boas esperanças de que haveis de voltar, senhor Alcoforado.
ALCOFORADO — Não voltarei! Assim pois, no último dia que me é dado passar convosco, permiti-me que vos revele um segredo; não vo-lo confiaria a não ser esta circunstância; eu o guardaria comigo até o último da vida, eu o encobriria a todos os olhos, e a terra, que me há-de tragar o coração, inteiro e não sabido o tragaria também.
A DUQUESA — Dizei.
ALCOFORADO — Quando o houverdes escutado, senhora duquesa, podereis calcar-me aos pés, que vos não oporei resistência; podereis enxovalhar-me o rosto sem que eu descerre um suspiro; podereis rasgar-me, espedaçar-me o coração... (Caindo de joelhos.) Eu vos amo!
A DUQUESA (Levantando-se.) — Senhor!
ALCOFORADO — Não fujais, senhora, não fujais. Eu sou uma criatura fraca e inofensiva, que eu não sei senão sofrer silenciosamente e verter lágrimas não vistas. Notai que se eu vos revelo este segredo é porque tenho certo que a minha presença nunca mais ofenderá os vossos olhos, nem há-de atrair o sangue à flor de vosso rosto. Parto e morrerei; mas dizei, dizei ao menos que vos compadeceis da minha loucura, e que não amaldiçoareis ao mísero que se deixou render por um amor insensato!
A DUQUESA — Levantai-vos: e depois de me ouvirdes conhecereis que é da vossa honra fugir de mim, e que me convém não vos tornar a ver. Eu vos amo, senhor! ALCOFORADO — Potestades do céu!
A DUQUESA — Não vos iludais: vinde, vede o que está neste leito.
ALCOFORADO — Vossos filhos!
A DUQUESA — Sim, meus filhos.É à cabeceira de meus filhos que eu vos direi que vos amo; eu vos amo, porque sois bom, porque sois nobre, porque sois generoso; eu vos amo, porque tendes um braço forte, um coração extremoso, uma alma inocente; eu vos amo porque vos devo a vida, porque não tendes mãe, e eu vos quero servir de mãe porque sofreis, e eu quero ser vossa irmã. É um amor compassivo e desvelado, que poderá ser reprovado na terra, mas que eu não creio que o seja nos céus. Entendeis-me agora?
ALCOFORADO — Oh! Senhora duquesa, vós sois bela, pura como os anjos, sois boa e grande como Deus; vossas palavras são como um bálsamo de vida e tornam o homem superior a si mesmo! (Dobres.)
A DUQUESA — Meu Deus!
ALCOFORADO — Que tendes, senhora?
A DUQUESA — Aqueles sons... não ouvis?
ALCOFORADO — Que importam! Quando o homem é feliz parece que toda a natureza se esmera em proclamar a sua ventura. Que vale a voz do trovão quando o contentamento nos mora dentro da alma!
A DUQUESA — Não os quisera escutar.
PAULA (De fora.) — Andam homens armados pelos corredores.
Acautelai-vos!
ALCOFORADO (Correndo à janela.) — Cortaram a corda! E fui eu quem vos lancei neste abismo.
A DUQUESA — Trata-se de vós, senhor; vejamos se vos podemos salvar!
ALCOFORADO — Estais salva. Dizei somente que me perdoais para que eu morra consolado.
A DUQUESA — Que ides vós fazer? ALCOFORADO — Oh! Nada! Lançar-me-ei do vosso balcão abaixo e talvez que ainda me sobrem forças para ir morrer fora do vosso parque.
A DUQUESA — Tendes alma sublime, Alcoforado; eu contudo não posso aceitar o vosso sacrifício, que a vossa morte seria terrível testemunho contra a minha inocência.
ALCOFORADO — Quem se atreveria a responsabilizar-vos pela morte de um miserável que aparecesse sem vida por baixo das vossas janelas? Não é este o último recurso?
A DUQUESA — Não, esperai. (Vai à janela e recua aterrada.) Meu Deus! O parque está todo iluminado!... Que eu não cometesse culpa nem crime, e que tenha de ver manchada a minha reputação!
Voz (De fora) — Abri! Abri! Senhora duquesa!
ALCOFORADO — Maldito! Maldito!
A DUQUESA — Calai-vos! Quem bate?
Voz (De fora) — O senhor duque vos quer falar.
A DUQUESA — Deixai-me vestir. Alcoforado, aqui, escondei-vos aqui por detrás desta alcatifa; não apareçais senão em últimas circunstâncias...
prometei-mo. A vossa espada, o vosso barrete... tomai tudo.
ALCOFORADO (De joelhos.) — Oh! Senhora, ainda é tempo, deixai-me precipitar daquela janela, e sereis salva.
O DUQUE (De fora) — Duquesa!
A DUQUESA — Céus! Meu marido!
ALCOFORADO — Perdão! Perdão! (Cai-lhe o barrete.)
O DUQUE (De fora.) — Arrombai essa porta!
A DUQUESA — Esperai. Alcoforado, não leveis mão da vossa espada contra meu marido; eu vô-lo suplico por mim, por meus filhos, por Deus, por tudo o que mais amais.
ALCOFORADO — Não usarei dela. O DUQUE (De fora.) — Arrombai! (Pancadas na porta.)
A DUQUESA — Escondei-vos!... Senhor, sede comigo! (Abre a porta.)
CENA V
O DUQUE, a DUQUESA
O DUQUE (Atentando na agitação da duquesa e olhando para todos os lados com desconfiança.) — Está aqui!
A DUQUESA (À parte.) — Já sabe tudo!
O DUQUE (Em voz baixa e rouca.) — Onde está ele?
A DUQUESA — Ele quem, senhor? Vós me apareceis pelo meio da noite ameaçador e terrível: vindes tumultuosamente, acompanhado pelos vossos escravos para fazer arrombar a porta da minha câmara: por que, senhor? Sou eu acaso alguma mulher sem consideração, alguma criatura vil e desprezível para que nem sequer vos lembrásseis que a vossa suspeita me desacreditaria no conceito dos vossos lacaios? Senhor duque...
O DUQUE — Onde está ele?
A DUQUESA — Fizestes iluminar o vosso parque, mandastes armar os vossos homens de armas, alvoroçastes todo o palácio; para que, senhor? Eu sou mulher, e vós bem me podeis fazer morrer sem ser à força de escândalo e de vergonha, sem me acabrunhar com todo o peso do vosso poderio. Vindes cercado de uma turba vil e mercenária, a quem basta um só aceno vosso para me cuspir no rosto, porque sou mulher e fraca, enquanto que vós sois homem e temido. É isto ser nobre?
O DUQUE — Onde está ele?
A DUQUESA — Onde está ele! Está aqui, senhor; está aqui no meu leito.
(Correndo as cortinas.) São vossos filhos: eles que vos atestem a minha inocência.
O DUQUE (Apanhando o barrete.) — A fita! A fita!
A DUQUESA — Meu Deus! O DUQUE (Arrojando o barrete ao chão e calcando-o aos pés.) —
Morrerá!
A DUQUESA — D. Jaime, escutai-me pacientemente: eu vos explicarei este azar funesto que me faz parecer culpada.
O DUQUE — Ambos! Ambos!
A DUQUESA — Escutai-me, senhor duque: vós ides cometer uma injustiça.
O DUQUE — Injustiça! Sois bem disfarçada e atrevida arrostando o olhar de um homem ultrajado sem cair por terra, de joelhos, de mãos postas, clamando perdão para o vosso delito e piedade para o que haveis de sofrer!...
Injustiça! Um vilão que acha no seu leito dois adúlteros, duas víboras, pode esmagá-los impunemente e eu não o poderei fazer? Por que o não poderei? Por que sou herdeiro jurado do trono, duque de Bragança e Guimarães, senhor de Ourém, Borba, Chaves, Barcelos e Vila Viçosa? Por que sou o primeiro duque da Europa, e o mais poderoso entre os nobres depois da nobreza coroada? Por São Tiago que vos desenganaremos!
A DUQUESA — Por São Tiago que vos enganais: podeis sem dúvida matar-me, senhor; mas vós vos arrependereis, e o vosso arrependimento será tardio; conhecereis a minha inocência, já tarde, e o remorso vos não deixará.
O DUQUE — Justificai-vos perante todos os da minha casa; não quero que se diga que eu mato uma inocente. Olá!
A DUQUESA — Senhor, eu leio a minha condenação nos vossos olhos;
vejo que me não haveis de perdoar, nem fazendo o céu um milagre para me salvar e para vos mostrar a minha inocência. A minha vida tem sido constantemente um estorvo para os vossos projetos, e eu conheço que ocultais a vossa convicção para mais facilmente vos livrardes de mim, eu o sei e o vejo;
porém se me quereis matar, senhor duque, se é esse o vosso propósito, como eu o creio, matai-me vós mesmo, barbaramente se o quiserdes; manchai embora o meu nome com uma nódoa infamante, mas não me humilheis na presença dos vossos servos. O meu nome é o vosso, senhor duque: não os podeis separar.
O DUQUE — Assim é, senhora; liguei o meu nome ao vosso, e vós tomastes o trabalho de mo infamar: trabalho bem fácil para vós, impossível para o mundo. Quando pois o vosso nome se tornar sinônimo da infâmia, o meu se converterá em ludíbrio da populaça, que folga, a vil, com o desar dos grandes. Assim fora, se me não viesse à mente fazer secar a mofa e o escárnio nos lábios do mais atrevido com o sentimento do terror. Bem dissestes vós... eu posso matar-vos a ambos, martirizar-vos, espezinhar-vos... nada me seria mais fácil.
Mas esta vingança, que bastaria talvez para satisfazer a um vilão, não me satisfaz a mim. Oh! Tivesse eu a certeza que esta frágua de ódio que me devora não me consumirá inteiro dentro de algumas horas; pudesse eu contar com a vida até o raiar do Sol... fora outra a minha vingança!... Esta noite eu faria erguer em Vila Viçosa dois patíbulos, um em frente do outro, e daria amanhã um espetáculo de sangue aos meus bons e leais burgueses. Convidaria a todos para um festim de rei, far-vos-ia arrastar pelas ruas como dois miseráveis criminosos; e malgrado as justiças del-rei, eu vos faria subir ao cadafalso, à luz do Sol, à vista de todos e à face do mundo. Mas já que não posso contar com a vida, tomarei outra vingança, se menos esplêndida, igualmente aterradora.
Entrai.
A DUQUESA — Senhor, é de joelhos que eu vô-lo peço; não me obrigueis a corar morrendo, nem a suportar a piedade hipócrita dos meus inferiores, que em torno de mim se estarão rindo interiormente com o meu suplício e com a minha desdita!
O DUQUE — Entrai.
CENA VI
O DUQUE, a DUQUESA, FERNÃO, homens armados, pajens com luzes.
A DUQUESA (Cobrindo o rosto com as mãos.) — Ah! São eles!
O DUQUE — Traidores não merecem contemplação.
A DUQUESA (Erguendo-se.) — Nem o sou, nem meus pais o foram nunca, senhor, podeis empunhar o cutelo do algoz, podeis cobrir o rosto com a máscara da justiça, podeis fazer-me assassinar traiçoeiramente: só não podereis descobrir labéu na minha vida, nem crime nas minhas ações.
O DUQUE (Aos da sua comitiva.) — Procurai por toda a parte um vil que deve estar neste palácio. CENA VII
OS MESMOS, ALCOFORADO (Saindo detrás do leito.)
ALCOFORADO — Senhor duque!
O DUQUE — Enfim! (A Fernão.) Fernão, dize ao preto cozinheiro que traga o manchil da cozinha; dize a dois dos meus capelães que venham confessar dois penitentes. (Fernão sai.)
ALCOFORADO — Esqueceis que ainda tenho a minha espada?
O DUQUE — Usai dela: folgaremos com isso.
A DUQUESA (Baixo.) — A vossa promessa... lembrai-vos!
ALCOFORADO (Ao duque.) — Eu prometi que não levaria mão da minha espada contra vós, e que o não prometesse! Vale porventura a minha vida um combate? (Depondo a espada.) Aí tendes a minha espada, senhor duque.
O DUQUE (Dando com o pé na espada.) — Cobardia!
ALCOFORADO — Senhor!
O DUQUE — Calai-vos!... Digo-vos que sois cobarde porque sois traidor, e o traidor não pode deixar de ser cobarde.
ALCOFORADO — Ainda hoje mostrei que o não era!
O DUQUE — Silêncio! Que mostrastes vós? Que já na vossa idade tendes a astúcia de uma serpente: e de feito tendes enganado a todos com falsas aparências de nobreza e de candura; mendigastes a minha proteção, introduzistes-vos em minha casa, aliciastes meus servos, seduzistes minha...
nem eu sei como a chame!... Morrerão ambos!
ALCOFORADO — Assim é, senhor duque; eu sou um cobarde, um falso, um infame, não pelo que dissestes, mas porque envolvi na minha ruína uma criatura inocente como os anjos; porque, depois de a ter obrigado a descer ao fundo da minha ignomínia, não a pude defender das vossas afrontas, nem dos doestos que lhe assacastes, coisas que não eram para dizer: por isso mereço a morte. Estou no vosso poder, senhor duque; fazei de mim o que vos aprouver, mas até o meu derradeiro instante ouvireis a minha voz bradar cada vez mais alto: — A duquesa é inocente! O DUQUE — Mentira! O cobarde deve mentir.
ALCOFORADO — Ainda quando a mentira houvesse escolhido os meus lábios para sua morada, não vos mentiria eu no meu derradeiro instante para que a maldição divina não pesasse eternamente sobre minha alma. Não é por mim que vos suplico a vida, senhor duque; fora indigno de viver quem tão baixamente a suplicasse. Estou no vosso poder, nem disso me queixo: depus a minha espada a vossos pés antes que me viesse a tentação de a arrancar contra vós; curvei a cabeça na vossa presença e, de joelhos e à hora da morte eu vos digo que ela é inocente, que por isso me tenho envilecido e que por isso me envileço ainda.
A DUQUESA (À parte.) — Nobre mancebo!
O DUQUE (Encarando-a fixamente.) — Tredos! Fizesse eu correr o mar entre ambos, que de um lado a outro voaria o pensamento do adultério!... Mar de sangue correrá entre ambos.
ALCOFORADO — Saciai a vossa vingança no meu sangue, que será bastante para apagá-la; puni o criminoso, mas não vos deixeis cegar pela vossa cólera, não mistureis o sangue do inocente com o sangue do pecador. Não sabeis quantas vítimas cairão comigo na sepultura?... Minha irmã enlouquecerá!... Meu pai... oh! Eu vos juro que será um desengano terrível para o bom do velho o féretro que amanhã lhe for enlutar a habitação, quando ele tropeçar em um cadáver, em vez de abraçar seu filho, seu filho bem amado que ele ainda espera abençoar, e mandá-lo às terras de África pugnar pela religião de seus pais, banhando a espada no sangue de infiéis!...Quando lhe chegar aos ouvidos notícia de morte tão desastrada, o desgosto lhe quebrará violentamente a vida. O pobre velho morrerá!... Se quereis mais vítimas, vítimas, senhor, se inocentes vos são precisas para o vosso sacrifício, sereis amplamente satisfeito.
O velho e a donzela, ambos morrerão; e todavia não é por mim, não, é por eles que imploro a vossa compaixão! Sede justo, senhor: salvai-a.
O DUQUE — Entra, escravo. (Entra o preto com um manchil.) Evilecerse-ia o braço do homem livre que vos cortasse a cabeça, e a espada que no vosso sangue se tingisse se tornaria infame; não morrereis por mão de um homem livre, nem aos golpes de uma espada. Vede... Vede também, senhora!
A DUQUESA — Oh! Senhor!
O DUQUE (À duquesa.) — Vede: será o seu carrasco um escravo, um preto... (Arroja-a de si e ela cai de joelhos.) A DUQUESA — Meu Deus! Compadecei-vos de mim!
O DUQUE (A Alcoforado.) — E o instrumento da vossa morte será um manchil grosseiro tão vil como vós sois.
FIM DO QUARTO QUADRO ATO TERCEIRO
QUADRO QUINTO
A cena representa um aposento no palácio do Duque, do lado direito um altar paramentado de tela branca e sobre ele um crucifixo, do outro lado mesa e cadeira; portas no fundo.
CENA I
A DUQUESA (Só, nos degraus do altar.) — Não posso orar!... O meu coração não pode despegar-se da vida, minha alma não pode elevar-se até Deus, e a religião me não pode consolar!... Quisera ter alguém que me falasse, porque me parece que isto é um sonho! Um sonho horrível que me está sufocando!...
(Pausa.) Tenho frio!... Mas por que aterrar-me assim? Se eu tenho sempre de morrer, que importa que me venha a morte agora ou logo, hoje ou passados anos?... A vida cansa, e Deus tem um sorriso mais carinhoso para aquele que mais sofre sobre a terra, e eu tenho sofrido muito!... Em vão, em vão! Apesar do sofrimento, eu quisera ser como as outras, viver a minha vida até o fim, e morrer com a morte que Deus manda! (Pausa.) O duque é bem cruel! E todavia eu sou como ele, sou talvez mais do que ele, e morrerei!... Morrerei porque sou fraca, morrerei porque sou mulher!... Deus foi misericordioso para comigo em me não ter dado uma filha; que se eu a tivesse, por muito que a amasse, e ainda que ela fosse a única... meu Deus! cometeria hoje um crime... matava-a... seria talvez condenada por toda a eternidade, porém ela seria livre no céu! Mas por que será irrevogável a minha condenação? Eu sou esposa sua, a mãe de seus filhos... Por ventura quis ele punir a minha imprudência só com o terror, e a estas horas já ele terá pensado que o meu martírio deve acabar. O duque é generoso; se ele tem sempre esmola para os mendigos, por que não terá também piedade para os que sofrem? Eu sofro tanto!
CENA II
A DUQUESA, PAULA
PAULA — Senhora duquesa!
A DUQUESA — Quem me chama?... Paula!
PAULA — Deixai-me chorar a vossos pés! A DUQUESA — Já me havia esquecido de ti, boa Paula; bem hajas tu que em tanta tristeza te vieste fazer lembrada, e que te não esqueceste da mísera condenada que algumas horas apenas tem de vida. (Encostando-se ao ombro dela.) Quando eu era feliz, e já me parece que foi há muito tempo, tinhas sempre um sorriso para desfazeres as minhas preocupações; e hoje! achaste no teu coração algumas lágrimas que vens derramar sobre o meu infortúnio. Bem hajas tu.
PAULA (Chorando.) — Vós, que sois inocente, senhora, por que haveis de morrer?
A DUQUESA — Dize, dize que não é para me consolar que assim me falas; jura-me que acreditas na minha inocência: preciso que alguém creia nela para não morrer de desespero.
PAULA — Não tenho eu vivido sempre na vossa companhia? Não leio no vosso rosto como na minha alma? Não sei eu que, se pudésseis cometer um crime, nenhuma haveria que não fosse criminosa?
A DUQUESA (Tristemente.) — Os meus também hão de acreditar na minha inocência, mas já tarde; talvez romperão lanças em favor dela, mas eu já serei morta! Oh! Se as lágrimas do arrependimento e do remorso pudessem dar a vida a um cadáver, não me pesara morrer, porque eu teria certa a minha ressurreição! Oh! boa Paula, é bem mal permitido que o homem, que não pode dar vida, tenha o poder de matar; é bem injusto que uma miserável criatura possa apagar a luz preciosa da existência que só Deus pode acender!... É bem injusto, meu Deus!
PAULA — É destino, senhora duquesa; que lhe havemos nós de fazer!
A DUQUESA — Tens razão; temos todos o nosso calvário, carregamos todos com a nossa cruz; e por que não haveria eu de sofrer também?... Mas, ó Senhor! bem aviltador é o meu calvário, e a minha cruz é muito pesada para mim!... Morrerei, Paula... O último favor que te pedir, cumpri-lo-ás tu?
PAULA — Dizei, senhora.
A DUQUESA — Quando me aparelharem para o meu infame suplício, hão-de cortar-me os cabelos; creio que assim se faz. Tu os ajuntarás, Paula: vai depois ao meu guarda-roupa, e lá encontrarás os meus vestidos que eu trouxe de Espanha; era então uma criança!... Tira um deles e manda-o à minha irmã com uma trança dos meus cabelos: farás isto? PAULA — Eu o farei.
A DUQUESA — Bem quisera eu deixar-te uma lembrança, boa Paula:
mas que posso eu agora? Entrei para esta casa coberta de veludos, e hei de sair vestida com a mortalha: entrei nova e cheia de inocência, e hei de sair ainda nova, mas infamada!... A vossa pobre duquesa, mais pobre do que vós outras, nada tem para recompensar os bons serviços dos seus fiéis servidores. Escuta:
quando eu for morta, tomarás para ti o meu livro de orações, e escreverás na primeira página o meu nome com o meu sangue; não creias que ele seja vil porque o hão de derramar vilmente!... Não lhe ponhas título nenhum, só o meu nome de batismo; e quando rezares lembra-te da infeliz Leonor, e dá-lhe uma das tuas orações.
PAULA — Seja-me Deus boa testemunha em como, se morrerdes, eu me irei sepultar em algum convento para ali passar a minha vida em orações e penitências, não por vós, mas por ele que vos assassina. (Como que se lembra, levantando-se.) Ah!
A DUQUESA — Assim me deixas?
PAULA — Esperai, esperai! (Sai.)
CENA III
A DUQUESA (Só) — Nunca me julguei com forças para sofrer tanto, nem que eu tivesse tantas lágrimas para chorar. No entanto sofro como se nunca houvera sofrido; choro como se nunca houvera chorado. (Pausa.) Sinto passos!... Quem sabe se não será o carrasco?... O carrasco!... (Sobe com terror pelos degraus até encostar-se às paredes do altar.)
CENA IV
A DUQUESA, PAULA, os dois meninos A DUQUESA (Correndo para eles.) — Meus filhos! Meus pobres filhos!... (Beijando-os e abraçando-os.) Vossa mãe ia morrer sem vos abençoar na hora da morte, sem beijar-vos, sem acariciar-vos, mais esta vez, sem vos banhar o rosto com as suas lágrimas!... Meus pobres filhos! Que fareis vós no mundo sem o amor de vossa mãe?... Talvez que uma estrangeira venha deitar-se no meu leito para dele vos expulsar!... Que sereis vós sem mim!... Inocentes! Pobres inocentes!... Eles vos dirão que eu fui uma grande criminosa e que me havia tornado indigna de viver: não os acrediteis, meus filhos!... Quando vos disserem mal da vossa pobre mãe, lembrai-vos de hoje e das minhas lágrimas, e adivinhareis então que eu fui bem infeliz, ouvistes?... Oh! Eles não compreendem as minhas palavras, e até do meu nome se hão de esquecer!...
Paula! Paula! Por que me trouxeste meus filhos?... Eu me resignaria a morrer, e agora é impossível!... Atende-me: vai ter com o senhor duque, dize-lhe que lhe quero falar uma hora, um instante antes de morrer. Deixa-me meus filhos... não, leva-os; dir-lhe-ás que é em nome deles que eu lhe peço um instante para lhe falar; e ele não me poderá negar mercê tão pequena. (Paula sai com os meninos.)
CENA V
A DUQUESA, LOPO GARCIA
A DUQUESA (Só, no meio da cena.) — Ele me perdoará!
LOPO GARCIA — Senhora!
A DUQUESA — Lopo Garcia! Ah! Que me acordais bem cruelmente, meu padre!
LOPO GARCIA — Resignai-vos, minha filha.
A DUQUESA — Resignar-me a quê? Não carecerei de vosso mister, meu padre; já mandei chamar a d. Jaime, que me não poderá recusar uma entrevista.
LOPO GARCIA — Resignai-vos!
A DUQUESA — Mas não estais vendo que é impossível que eu morra assim?... Não sabeis que meu pai é o duque de Medina Sidônia?... O senhor duque não pensou nisso: ele me perdoará.
LOPO GARCIA — Não o fará.
A DUQUESA — Como! Vós que sois um bom e santo padre pondes um freio injurioso à bondade daquele que folga em sua justiça de amolgar o coração mais endurecido, e de reparar o mal por mão daquele mesmo que o praticou? LOPO GARCIA — Não o espereis! A esperança engana sempre que não esperamos a morte. Preparai-vos no santo tribunal da penitência para subirdes à presença do Senhor; confessai as vossas culpas e contristai-vos! A DUQUESA (Chorando.) — Ah! Meu padre, sois bem cruel em me despojar assim das minhas últimas esperanças. Deus vos perdoe a dor que me causais.
LOPO GARCIA — Que merece a vida, minha filha? É um sonho mais ou menos longo, alegre ou triste, que o acordar da morte só vale dissipar. Consolaivos! Deus é misericordioso, e vos perdoará em favor do vosso arrependimento.
A DUQUESA — A vida! A vida, meu padre!
LOPO GARCIA — Não vos rebeleis contra o Senhor, nem o irriteis com a vossa desobediência! Curvai a cabeça perante a sua justiça, e confessai-vos para que a morte vos não colha impenitente.
A DUQUESA — Que vos hei de eu confessar?
LOPO GARCIA — A vossa vida. Qual é o justo que vive sem pecado durante o período de sua existência? Recordai-vos de quanto haveis feito, dito ou pensado, e atentai que, se é o sacerdote quem escuta as vossas palavras, é Deus quem recebe a vossa confissão.
A DUQUESA — A minha vida... é um tecido de dores, bem pequenas que talvez não compreendais, e que todavia me têm martirizado.
LOPO GARCIA — Contai-a.
A DUQUESA (Depois de alguns instantes de silêncio.) — Criança me trouxeram da casa de meus pais, prenderam-me numa câmara forrada de veludo, envolveram-me em alcatifas de seda, em reposteiros de damasco e eu disse adeus ao meu prado florido, ao meu jardim encantado, às flores que eu amava, a tudo, meu padre, a tudo!... Disseram-me então que eu pertencia a um homem, e que o devia amar porque ele era meu esposo. Afiz-me à idéia de que lhe pertencia, fiz esforços incríveis para o amar, a ele que eu só via de quando em quando rodeado de larga turba de cortesãos, polido e respeitoso para comigo, porém, nunca extremoso. Nunca ele teve franqueza para comigo, nunca eu a pude ter para com ele; nunca o pude amar. E se ele o quisera! Bem pouco lhe seria preciso, porém jamais se deu ele a esse trabalho. Nunca, meu padre, nunca estive com ele sem recear um acesso de sua cólera, sem tremer na sua presença como uma escrava. Dizei meu padre: sou eu culpada em o não ter podido amar?
LOPO GARCIA — Continuai. A DUQUESA — Quisestes escutar a minha vida... já vo-la contei. Não tive flores na minha infância, nem descanso na minha juventude. Outras culpas terei eu de que me não recordo... Deus mas perdoará.
LOPO GARCIA — Não mintais à hora da morte!... E o mancebo que foi há pouco encontrado no vosso aposento?
A DUQUESA — Ah! Sim, meu padre, a ação pertence à criatura, mas as circunstâncias vêm... talvez do céu. Serei criminosa para Deus, porém sou inocente perante os homens. Ouvi. Na minha soledade houve um mancebo que se compadeceu de mim, talvez porque adivinhou os sofrimentos que eu curtia silenciosa; desvelou-se no meu serviço; cercou-me de solicitudes, velava incessantemente sobre mim. E eu conheci que ele era respeitoso e cheio de extremos, e que o seu amor era nobre, inocente e puro, como sua alma. Dizeime, fiz mal em o não expulsar da minha presença?
LOPO GARCIA — Continuai!
A DUQUESA — Por algum tempo me deixei embalar por esse novo afeto que então principiava a sentir: veio-me depois a idéia que eu o não devia entorpecer na sua carreira, e pedi ao senhor duque que o dispensasse do seu serviço e que o mandasse para África ganhar nome no serviço del-rei e salvação em guerras de infiéis. Dizei: fiz mal intercedendo por ele?
LOPO GARCIA — Continuai.
A DUQUESA — Ontem o senhor duque quis que o acompanhasse a uma caçada: acompanhei-o. No meio dela um javali ia espedaçar-me; esse mancebo salvou-me a vida. Dizei: fiz mal dizendo-lhe que lhe devia a vida?
LOPO GARCIA — Prossegui.
A DUQUESA — Ele ia partir para África, mais por força das minhas instâncias do que por vontade sua. Cheio de funestos pressentimentos, que ainda mal se realizaram, ele se lançou a meus pés pedindo-me que o escutasse. O
senhor duque nos podia surpreender, algum pajem nos podia escutar, e ele estaria perdido; fui prudente. Pediu-me uma entrevista para esta noite, que ele devia partir ao amanhecer. Eu conhecia a sua nobreza e honradez; concedi-lha.
Dizei: fiz mal em ser prudente para não ser uma ingrata?
LOPO GARCIA — Acabai. A DUQUESA — À noite eu o recebi na minha câmara; meus filhos descansavam no meu leito. Ele disse que me amava; eu disse que o amava também como a um irmão, como a um filho. Fui nisto criminosa?
LOPO GARCIA — Nada mais?
A DUQUESA — Nada mais! Foi ser boa, afável, generosa, agradecida e prudente, tudo isto que na terra se diz virtudes, e que porventura também se chama virtudes no céu: foi tudo isto que me perdeu!
LOPO GARCIA — Deus vos receberá na sua glória, minha filha.
A DUQUESA — Mas não compreendeis vós que, se eu morrer, o mundo me julgará criminosa? Não vedes que eu não quero morrer porque amo a vida, que o não posso porque sou inocente?
CENA VI
LOPO GARCIA, o DUQUE, a DUQUESA
O DUQUE — Acabai com a vossa confissão!
A DUQUESA (Levantando-se.) — Dai-me forças, meu Deus!
LOPO GARCIA — Escutai-me um instante, senhor duque!
O DUQUE — Não vos podemos atender, meu padre!
LOPO GARCIA — Bem sei que o segredo da confissão é inviolável e sagrado; porém, Deus me perdoará se obro mal com isto, porque o faço para vos poupar um crime. Senhor duque, a vossa esposa é inocente! O DUQUE — Não cometais um sacrilégio, meu padre; perfizestes o vosso mister; podeis retirar-vos.
LOPO GARCIA — Eu vo-lo repito, senhor, ela é inocente!... A duquesa terá caído em faltas que hão-de achar graça na presença de Deus, e Deus é justo.
Vós sois homem, senhor duque; não sejais mais rigoroso do que ele... perdoailhe.
O DUQUE — Meu padre, não aprouve ao Senhor dar-nos o condão da paciência... retirai-vos. (Lopo Garcia sai.)
CENA VII
O DUQUE, a DUQUESA
O DUQUE — Findou-se o prazo, senhora duquesa!
A DUQUESA — Senhor, mais um instante.
O DUQUE — Mais dez minutos.
A DUQUESA — É pouco, senhor: tenho tanto para vos dizer!
O DUQUE — Tendes um quarto de hora.
A DUQUESA (Depois de um instante de silêncio.) — Assim pois, senhor duque, não quisestes dar crédito às palavras de um moribundo que sobre a condenação eterna de sua alma vos asselava a minha inocência com um pé sobre o sepulcro!
O DUQUE — Mentiu: eu vi a fita!
A DUQUESA — A fita! Mas se ela fosse um presente vergonhoso, não a recataria ele cuidadosamente ao invés de a trazer tanto às claras? Não vos parece que seria isso uma loucura, senhor duque?
O DUQUE — Que sei eu? A alma do vilão embriagou-se com a posse de uma duquesa; quis fazer alarde dos seus amores, quis escarnecer de mim...
enganou-se! A DUQUESA — Se não quereis acreditar nas palavras do moribundo, dai crédito ao menos ao santo sacerdote. Não vos disse ele que eu era inocente?
O DUQUE — Mentistes vós: ele lá estava convosco.
A DUQUESA — Meus filhos também lá estavam, senhor.
O DUQUE — Escândalo maior, senhora, escândalo maior! Quando mentistes ao sacerdote na vossa última confissão, condenastes a vós mesma; se tão somente profanásseis o vosso leito, o crime ficaria ainda convosco! Fora isso apenas impiedade numa cristã, infâmia numa esposa! Há muito disso. Mas que a esposa se lembrasse dos filhos para encobrir o seu adultério, que o crime se lembrasse da inocência para vestir a sua nudez, que a mãe se lembrasse dos filhos para os industriar no crime!... eis o que é horroroso, senhora, eis o que é estupendo e inaudito, eis o crime por que haveis de morrer!...
A DUQUESA — Imprudentemente me prodigalizais impropérios e convícios, senhor duque. Fui criada em vossa casa, foi vossa mãe quem me educou. Atentai que parte de quanto me dizeis recai sobre quem se encarregou da minha educação.
O DUQUE — Por quê? Conheço almas fáceis que se persuadem que ser virtuosa é ser fingida, e que para ser impune basta ser habilmente criminosa.
Outras há que nascem propensas para o crime e com o instinto do vício no coração. Há criaturas assim!
A DUQUESA — Senhor duque, vós sois poderoso e excusais de subterfúgios contra mim. Ninguém vos pedirá contas da minha morte, senhor, e excusais de torcer os vossos juízos para me caluniar. Podeis dizer, e dizei-o francamente, que ninguém nos escuta: “Morrerás porque assim o quero!” É uma razão que todos compreendem, a razão do mais forte, se não é a do mais nobre.
Contra a vossa vontade me oferecestes mão de esposo, e tendes sempre vivido constrangido considerando-me como um estorvo para a vossa vocação, porque premeditáveis ser frade ou coisa semelhante. Bem oportunamente vos sorri este ensejo para de mim vos desfazerdes. Aproveitai-vos dele, e agradecei ao azar sem ostentardes de justiceiro. Não me faleis em justiça humana, senhor, porque eu me poderei lembrar que vosso pai foi humanamente justiçado!
O DUQUE — Deus vos encontre tão pura como ele, senhora duquesa.
A DUQUESA (De joelhos.) — Perdão, Senhor, perdão. Não era isso o que eu vos quisera dizer: mas sei eu porventura o que digo?... Estou quase louca, não penso, não meço as minhas palavras. Perdoai-me!... Eu amo a vida, senhor duque; por que vos hei de eu mentir?... Sou uma mulher fraca e sem forças; choro porque a amo e porque me dói perdê-la. Sou eu acaso algum homem para ter coragem?... Amo a vida, amo tudo o que me cerca, amo tudo o que me era indiferente... sou nova e não posso resignar... sou inocente e não devo morrer. Perdoai-me! Que vos importam algumas palavras descuidadas que me escaparam? Não pensei nelas, nem foi minha intenção ofender-vos. Vós me aborreceis e com razão... O que era eu para merecer o nome de vossa esposa?...
Que sou eu para vos merecer o vosso amor? A mim também casaram-me sem que eu soubesse o que era matrimônio. E que culpa tenho eu em não ter resistido à obediência a que desde criança me afizeram?... Como o poderia eu imaginar!... Ainda então não sabia que o homem, que é forte, pode ser obrigado a casar-se contra o seu querer, a casar-se com uma mulher que ele não ama!
O DUQUE — Quem me poderia obrigar, senhora?
A DUQUESA — Tendes razão: eu é que sou uma louca em vos dizer estas coisas; mas tenho eu consciência do que vos estou dizendo?... Digo-vos tudo quanto me vem à cabeça para que vejais quanto sofro e para que me perdoeis, senhor duque...
O DUQUE — Levantai-vos, senhora duquesa: o meu propósito é irrevogável.
A DUQUESA — Mudá-lo-eis, senhor; mudá-lo-eis quando aventardes que mofina que eu sou, e que embaraços a minha morte vos pode acarretar. O
conde de Urenha, meu cunhado, e o marquês de Cazaça, meu irmão, virão reptar-vos para o duelo, apelando da vossa sentença para o juízo de Deus.
O DUQUE — Atrever-se-ão eles!...
A DUQUESA — Meu Deus! Como lhe hei de eu falar!... Eu vos digo estas coisas sem consciência, sem intenção de vos ofender. Eu é que sou a medrosa, vós sois forte e valente, de nada vos arreceais. Com efeito, de que vos podeis temer? Que vos importam meus irmãos, ou que vos podem eles fazer?
Bem podeis vós calcar-me, bem podeis matar-me e fazer de mim quanto mais vos aprouver; mas que glória vos virá daí, senhor duque?
O DUQUE — Confrontai estas vossas palavras com as que ainda há pouco em a vossa câmara me dissestes!... Com o gesto irritado, com o olhar sobranceiro pedistes-me contas do meu proceder tachando-me de pouca lisura e comedimento! Agora, porém, confessais a minha prepotência, e tendes sem dúvida para vós que, se como homem me injuriastes, eu como senhor me vingo!... Apesar de vos abaixardes tanto, senhora... A DUQUESA (Levantando-se.) — Senhor duque!
O DUQUE — Apesar de quanto tendes feito para alcançar a vida, apesar de tudo quanto me haveis dito ou me possais dizer, não será menos certa a vossa morte. Acreditai que me não deixarei amolgar pelas vossas preces e que nem as vossas lágrimas torcerão a minha justiça. Morrereis!
CENA VIII
OS MESMOS, um PAJEM
O SERVO — Senhor duque!
A DUQUESA — É ele!
O DUQUE — Viestes oportunamente. Findou-se o prazo.
A DUQUESA — Meu Deus!
O SERVO — Perdoai o meu arrojo, senhor duque, e não me tenhais má vontade, porque uma só vez vos desobedecerei.
O DUQUE — Falai.
O SERVO — Não vos posso servir nesta ocasião, senhor!
O DUQUE — Por quê?
O SERVO — Aquele santo padre que há pouco saiu desta câmara, dissenos que a senhora duquesa era inocente, e que excomungado seria que em mal dela vos obedecesse!
A DUQUESA — É possível!
O DUQUE — Por nosso respeito não desobedecereis ao santo padre, nem ireis contra os ditames da vossa consciência! Entre os nossos vassalos mais do que um haverá que neste ensejo nos acuda em vossa falta. Chamai-os! (O servo abre a porta e faz sinal para dentro.) CENA ÚLTIMA
O DUQUE, a DUQUESA, servos, homens de armas O DUQUE — Este homem que aqui vedes nos obriga, em circunstância bem melindrosa, a experimentar a vossa lealdade. Precisamos de um executor de alta justiça, e dar-lhe-emos com a nossa proteção cem peças de ouro.
A DUQUESA — Inspirai-os, meu Deus! Inspirai-os!
O DUQUE — Nenhum se move!... Pensais talvez que mais vale a cabeça de uma duquesa... nós lhe daremos mil peças de ouro e primeiro lugar entre os meus servidores.
A DUQUESA — Hão de tentar-se!... Nenhum! Nenhum!
O DUQUE (Concentrado.) — O Padre!... Por que o deixei sair quando precisava de um algoz?... (Baixo ao primeiro servo.) O estrado e o cepo?
O SERVO — Estão prontos.
O DUQUE — E o cutelo?
O SERVO — Está afiado.
O DUQUE (Como que falando consigo.) — Uma duquesa não deve morrer como uma mulher vulgar.
A DUQUESA — Estou salva!
O DUQUE (Em voz alta.) — A filha de d. João de Gusmão, duque de Medina Sidônia, conde de Niebla, marquês de Cazaça e senhor de Gibraltar merece contemplação pela sua hierarquia. (À duquesa.) Não vos parece?
A DUQUESA (Tímida.) — Foi talvez inspiração do céu a que tornou esses homens surdos à voz do interesse.
O DUQUE — E do céu é que vem esta inspiração, senhora duquesa.
Alegrai-vos... tereis um duque por carrasco!
A DUQUESA — Vós! Senhor!
O DUQUE (Travando-lhe o braço.) — Vinde! A DUQUESA — Oh! Ainda um instante!
O DUQUE — Nada mais!
A DUQUESA — Eu tenho ainda tanto para vos dizer... Escutai-me até o fim, e certamente me haveis de perdoar.
O DUQUE — Não vos perdoarei.
A DUQUESA — O que é um instante para vós que ficais desfrutando a vida?... Por Deus! Dai-me um só instante!
O DUQUE — Não vos escuto!
A DUQUESA — Um instante, senhor!
O DUQUE (Saindo com ela pela porta do fundo.) — Morrereis...
morrereis!...
FIM DO DRAMA
O que você achou desse texto?
Comente abaixo e participe!