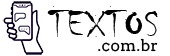Crônicas
A carroça dos cachorros Quando de manhã cedo, saio da minha casa, triste e saudoso da minha mocidade que se foi fecunda, na rua eu vejo o espetáculo mais engraçado desta vida.
Amo os animais e todos eles me enchem do prazer natureza.
Sozinho, mais ou menos esbodegado, eu, pela manhã desço a rua e vejo.
O espetáculo mais curioso é o da carroça dos cachorros. Ela me lembra a antiga caleça dos ministros de Estado, tempo do império, quando eram seguidas por duas praças de cavalaria de polícia.
Era no tempo da minha meninice e eu me lembro disso com as maiores saudades.
- Lá vem a carrocinha! - dizem.
E todos os homens, mulheres e crianças se agitam e tratam de avisar os outros.
Diz Dona Marocas a Dona Eugênia:
- Vizinha! Lá vem a carrocinha! Prenda o Jupi!
E toda a “avenida" se agita e os cachorrinhos vão presos e escondidos.
Esse espetáculo tão curioso e especial mostra bem de que forma profunda nós homens nos ligamos aos animais.
Nada de útil, na verdade, o cão nos dá; entretanto, nós o amamos e nós o queremos.
Quem os ama mais, não somos nós os homens; mas são as mulheres e as mulheres pobres, depositárias por excelência daquilo que faz a felicidade e infelicidade da humanidade - o Amor.
São elas que defendem os cachorros dos praças de polícia e dos guardas municipais; são elas que amam os cães sem dono, os tristes e desgraçados cães que andam por aí à toa.
Todas as manhãs, quando vejo semelhante espetáculo, eu bendigo a humanidade em nome daquelas pobres mulheres que se apiedam pelos cães.
A lei, com a sua cavalaria e guardas municipais, está no seu direito em persegui-los; elas, porém, estão no seu dever em acoitá-los.
Marginália, 20-9-1919 15 de novembro Escrevo esta no dia seguinte ao do aniversário da proclamação da República. Não fui à cidade e deixei-me ficar pelos arredores da casa em que moro, num subúrbio distante. Não ouvi nem sequer as salvas da pragmática; e, hoje, nem sequer li a notícia das festas comemorativas que se realizaram. Entretanto, li com tristeza a notícia da morte da princesa Isabel. Embora eu não a julgue com o entusiasmo de panegírico dos jornais, não posso deixar de confessar que simpatizo com essa eminente senhora.
Veio, entretanto, vontade de lembrar-me o estado atual do Brasil, depois de trinta e dois anos de República. Isso me acudiu porque topei com as palavras de compaixão do Senhor Ciro de Azevedo pelo estado de miséria em que se acha o grosso da população do antigo Império Austríaco. Eu me comovi com a exposição do doutor Ciro, mas me lembrei ao mesmo tempo do aspecto da Favela, do Salgueiro e outras passagens pitorescas desta cidade.
Em seguida, lembrei-me de que o eminente senhor prefeito quer cinco mil contos para reconstrução da avenida Beira-Mar, recentemente esborrachada pelo mar.
Vi em tudo isso a República; e não sei por quê, mas vi.
Não será, pensei de mim para mim, que a República é o regime da fachada, da ostentação, do falso brilho e luxo de parvenu, tendo como repoussoir a miséria geral? Não posso provar e não seria capaz de fazê-lo.
Saí pelas ruas do meu subúrbio longínquo a ler as folhas diárias. Lia-as, conforme o gosto antigo e roceiro, numa "venda" de que minha família é freguesa.
Quase todas elas estavam cheias de artigos e tópicos, tratando das candidaturas presidenciais. Afora o capítulo descomposturas, o mais importante era o de falsidade.
Não se discutia uma questão econômica ou política; mas um título do Código Penal.
Pois é possível que, para a escolha do chefe de uma nação, o mais importante objeto de discussão seja esse?
Voltei melancolicamente para almoçar, em casa, pensando, cá com os meus botões, como devia qualificar perfeitamente a República.
Entretanto - eu o sei bem - o 15 de Novembro é uma data gloriosa, nos fastos da nossa história, marcando um grande passo na evolução política do país.
Marginália, 26-11-1921 A gratidão do Assírio - Meu caro Senhor Assírio, eu lhe tinha a perguntar se de fato está satisfeito com a vida.
Nós nos havíamos introduzido no elegante porão do Municipal e falávamos ao restaurante chic com água na boca. Este não tardou em responder:
- Sei, doutor. Rui Barbosa não tem igual.
- Mas por que você não vota nele?
- Não voto porque não o conheço intimamente, de perto, como já disse ao senhor.
Antigamente...
- Você não pensava assim - não é?
- É verdade; mas, de uns tempos a esta parte, dei em pensar.
- Faz mal. O partido...
- Não falo mal do partido. Estou sempre com ele, mas não posso por meu próprio gosto dar sobre mim tanta força a um homem, de que eu não conheço o gênio muito bem.
- Mas, se é assim, você terá pouco que escolher a não ser, nós colegas e nós amigos de você.
- Entre esses eu não escolho, porque não vejo nenhum que tenha as luzes suficientes;
mas tenho outros conhecidos, entre os quais posso procurar a pessoa para me governar, guiar e aconselhar.
- Quem é?
- É o doutor.
- Eu?
- Sim, é o senhor.
- Mas, eu mesmo? Ora...
- É a única pessoa de hoje que vejo nas condições e que conheço. O senhor é do partido, e votando no senhor, não vou contra ele.
- De forma que você...
- Voto no senhor, para presidente da república.
- É voto perdido...
- Não tem nada; mas voto de acordo com o que penso. Parece que sigo o que está no manifesto assinado pelo senhor e outros. "Guiados pela nossa consciência e obedecendo o dever de todo republicano de consultá-la"...
- Chega Felício.
- Não é isso?
- É mas você deve concordar que um eleitor arregimentado tem de obedecer ao chefe.
- Sei, mas isto é quando se trata de um deputado ou senador, mas para presidente, que tem todos os trunfos na mão, a coisa é outra. É o que penso. Demais...
- Você está com teorias estranhas, subversivas...
- Estou, meu caro senhor; estou, imagine que não há dia em que não me veja abarbado com um banquete.
- É assim?
- Pois não, meu digno senhor. Um poeta publica um livro e logo encomendam-me um banquete com todos os "ff" e "rr"; os jornais publicam a lista dos convidados, ao dia seguinte, e o meu nome se espalha por este país todo. Se acontece alguém escrever uma crônica feliz, zás, banquete, retrato e nome nos jornais. Se, por acaso...
- Notamos, - interrompi eu, que nas suas festanças não há mulheres.
- Já observei isto aos dilettanti de banquetes e, até, lhes ofereci organizar um quadro de convidadas.
- Que eles disseram?
- Penso que eles não querem rivalidades femininas. Já as têm em bom número masculinas.
- E as flores?
- Com isso não me preocupo, porque, às vezes, elas me servem para meia dúzia de banquetes. Os rapazes não reparam nisso.
- E as iguarias?
- Oh! Isso? Também não vale nada. Basta uns nomes arrevesados, para que os nossos Lúculos comam gato por lebre. Mas a minha maior gratidão é...
- Por quem?
- Pela Secretaria do Exterior. Um cidadão é promovido de segundo secretário a primeiro, banquete; um outro passa de amanuense a segundo secretário, banquete... Herança do Rio Branco!... Outro dia, como o Serapião passasse de servente a contínuo, logo lhe ofereceram um banquete.
- Os serventes?
- Não; todos os empregados. Que gente boa, meu caro senhor.
Deixamos o Senhor Assírio cheio de -uma terna beatitude agradecida por tão bela gente que se banqueteia.
Careta, 11-9-1915 Lima Barreto A lei Este caso da parteira merece sérias reflexões que tendem a interrogar sobre a serventia da lei.
Uma senhora, separada do marido, muito naturalmente quer conservar em sua companhia a filha; e muito naturalmente também não quer viver isolada e cede, por isto ou aquilo, a uma inclinação amorosa.
O caso se complica com uma gravidez e para que a lei, baseada em uma moral que já se findou, não lhe tire a filha, procura uma conhecida, sua amiga, a fim de provocar um aborto de forma a não se comprometer.
Vê-se bem que na intromissão da “curiosa" não houve nenhuma espécie de interesse subalterno, não foi questão de dinheiro. O que houve foi simplesmente camaradagem, amizade, vontade de servir a uma amiga, de livrá-la de uma terrível situação.
Aos olhos de todos, é um ato digno, porque, mais do que o amor, a amizade se impõe.
Acontece que a sua intervenção foi desastrosa e lá vem a lei, os regulamentos, a polícia, os inquéritos, os peritos, a faculdade e berram: você é uma criminosa! você quis impedir que nascesse mais um homem para aborrecer-se com a vida!
Berram e levam a pobre mulher para os autos, para a justiça, para a chicana, para os depoimentos, para essa via-sacra da justiça, que talvez o próprio Cristo não percorresse com resignação.
A parteira, mulher humilde, temerosa das leis, que não conhecia, amedrontada com a prisão, onde nunca esperava parar, mata-se.
Reflitamos, agora; não é estúpida a lei que, para proteger uma vida provável, sacrifica duas? Sim, duas porque a outra procurou a morte para que a lei não lhe tirasse a filha. De que vale a lei?
Vida urbana, 7-1-1915 A mulher brasileira É de uso que, nas sobremesas, se façam brindes em honra ao aniversariante, ao par que se casa, ao infante que recebeu as águas lustrais do batismo, conforme se tratar de um natalício, de um casamento ou batizado. Mas, como a sobremesa é a parte do jantar que predispõe os comensais a discussões filosóficas e morais, quase sempre, nos festins familiares, em vez de se trocarem idéias sobre a imortalidade da alma ou o adultério, como observam os Goncourts, ao primeiro brinde se segue outro em honra à mulher, à mulher brasileira.
Todos estão vendo um homenzinho de pince-nez, testa sungada, metido numas roupas de circunstâncias; levantar-se lá do fim da mesa; e, com uma mão ao cálice, meio suspenso, e a outra na borda do móvel, pesado de pratos sujos, compoteiras de doce, guardanapos, talheres e o resto - dizer: “Peço a palavra"; e começar logo: Minhas senhoras, meus senhores". As conversas cessam; Dona Lili deixa de contar a Dona Vivi a história do seu último namoro; todos se aprumam nas cadeiras; o homem tosse e entra em matéria: “A mulher, esse ente sublime..."
E vai por aí, escachoando imagens do Orador familiar, e fazendo citações de outros que nunca leu, exaltando as qualidades da mulher brasileira, quer como mãe, quer como esposa, quer como filha, quer como irmã.
A enumeração não foi completa; é que o meio não lhe permitia completá-la.
É uma cena que se repete em todos os festivos ágapes familiares, às vezes mesmo nos de alto bordo.
Haverá mesmo razão para tantos gabos? Os oradores terão razão? Vale a pena examinar.
Não direi. que, como mães, as nossas mulheres não mereçam esses gabos; mas isso não é propriedade exclusiva delas e todas as mulheres, desde as esquimós até às australianas, são merecedoras dele. Fora daí, o orador estará com a verdade?
Lendo há dias as Memórias, de Mine. d'Épinay, tive ocasião de mais de uma vez constatar a floração de mulheres superiores naquele extraordinário século XVIII francês.
Não é preciso ir além dele para verificar a grande influência que a mulher francesa tem tido na marcha das idéias de sua pátria.
Basta-nos, para isso, aquele maravilhoso século, onde não só há aquelas que se citam a cada passo, como essa Mine. d'Épinay, amiga de Grimm, de Diderot, protetora de Rousseau, a quem alojou na famosa “Ermitage", para sempre célebre na história das letras; e Mine. du Deffant, que, se não me falha a memória, custeou a impressão do Espírito das leis. Não são unicamente essas. Há mesmo um pululamento de mulheres superiores que influem, animam, encaminham homens superiores do seu tempo. A todo o momento, nas memórias, correspondências e confissões, são apontadas; elas se misturam nas intrigas literárias, seguem os debates filosóficos.
É uma Mine. de Houdetot; é uma Marechala de Luxemburgo; e até, no fundo da Sabóia, na doce casa de campo de Charmettes, há uma Mine. de Warens que recebe, educa e ama um pobre rapaz maltrapilho, de quem ela faz mais tarde Jean-Jacques Rousseau.
E foi por ler Mine. d'Épinay e recordar outras leituras, que me veio pensar nos calorosos elogios dos oradores de sobremesas à mulher brasileira. Onde é que se viram no Brasil, essa influência, esse apoio, essa animação das mulheres aos seus homens superiores?
É raro; e todos que o foram, não tiveram com suas esposas, com suas irmãs, com suas mães, essa comunhão nas idéias e nos anseios, que tanto animam, que tantas vantagens trazem ao trabalho intelectual.
Por uma questão qualquer, Diderot escreve uma carta a Rousseau que o faz sofrer; e logo este se dirige a Mme. d'Épinay, dizendo: “Se eu vos pudesse ver um momento e chorar, como seria aliviado!" Onde é que se viu aqui esse amparo, esse domínio, esse ascendente de uma mulher; e, entretanto, ela não era nem sua esposa, nem sua mãe, nem sua irmã, nem mesmo sua amante!
Como que adoça, como que tira as asperezas e as brutalidades, próprias ao nosso sexo, essa influência feminina nas letras e nas artes.
Entre nós, ela não se verifica e parece que aquilo que os nossos trabalhos intelectuais têm de descompassado, de falta de progressão e harmonia, de pobreza de uma alta compreensão da vida, de revolta clara e latente, de falta de serenidade vem daí.
Não há num Raul Pompéia influência da mulher; e cito só esse exemplo que vale por legião. Se houvesse, quem sabe se as suas qualidades intrínsecas de pensador e de artista não nos poderia ter dado uma obra mais humana, mais ampla, menos atormentada, fluindo mais suavemente por entre as belezas da vida?
Como se sente bem a intimidade espiritual, perfeitamente espiritual, que há entre Balzac e a sua terna irmã, Laura Sanille, quando aquele lhe escreve, numa hora de dúvida angustiosa dos seus tenebrosos anos de aprendizagem: "Laura, Laura, meus dois únicos desejos, 'ser célebre e ser amado', serão algum dia satisfeitos?" Há disso aqui?
Se nas obras dos nossos poetas e pensadores, passa uma alusão dessa ordem, sentimos que a coisa não é perfeitamente exata, e antes o poeta quer criar uma ilusão necessária do que exprimir uma convicção bem estabelecida. Seria melhor talvez dizer que a comunhão espiritual, que a penetração de idéias não se dá; o poeta força as entradas que resistem tenazmente.
É com desespero que verifico isso, mas que se há de fazer? É preciso ser honesto, pelo menos de pensamento...
É verdade que os homens de inteligência vivem separados do país; mas se há uma pequena minoria que os segue e acompanha, devia haver uma de mulheres que fizesse o mesmo.
Até como mães, a nossa não é assim tão digna dos elogios dos oradores inflamados. A
sagacidade e agilidade de espírito fazem-lhes falta completamente para penetrar na alma dos filhos; as ternuras e os beijos são estranhos às almas de cada um. Sonho do filho não é percebido pela mãe; e ambos, separados, marcham no mundo ideal. Todas elas são como aquela de que fala Michelet: "Não se sabe o que tem esse menino. Minha Senhora, eu sei: ele nunca foi beijado".
Basta observar a maneira de se tratarem. Em geral, há jeitos cerimoniosos, escolhas de frases, ocultações de pensamentos; o filho não se anima nunca a dizer francamente o que sofre ou o que deseja e a mãe não o provoca a dizer.
Sem sair daqui, na rua, no bonde, na barca, poderemos ver a maneira verdadeiramente familiar, íntima, sem morgue nem medo, com que as mães inglesas, francesas e portuguesas tratam os filhos e estes a elas. Não há sombra de timidez e de terror; não há o "senhora"
respeitável; é "tu", é “você”.
As vantagens disso são evidentes. A criança habitua-se àquela confidente; faz-se homem e, nas crises morais e de consciência, tem onde vazar com confiança as suas dores, diminuí-las, portanto, afastá-las muito, porque dor confessada é já meia dor e tortura menos. A alegria de viver vem e o sorumbatismo, o mazombo, a melancolia, o pessimismo e a fuga do real vão-se.
Repito: não há tenção de fazer uma mercurial desta crônica; estou a exprimir observações que julgo exatas e constato com raro desgosto. Antes, o meu maior desejo seria dizer das minhas patrícias, aquilo que Bourget disse da missão de Mme. Taine, junto a seu grande marido, isto é, que elas têm cercado e cercam o trabalho intelectual de seus maridos, filhos ou irmãos de uma atmosfera na qual eles se movem tão livremente como se estivessem sós, e onde não estão de fato sós.
Foi, portanto combinado a leitura de uma mulher ilustre com a recordação de um caso corriqueiro da nossa vida familiar que consegui escrever estas linhas. A associação é inesperada; mas não há do que nos surpreender com as associações de idéias.
Vida urbana, 27-4-1911 A polícia suburbana Noticiam os jornais que um delegado inspecionando, durante uma noite destas, algumas delegacias suburbanas, encontrou-as às moscas, comissários a dormir e soldados a sonhar.
Dizem mesmo que o delegado-inspetor surripiou objetos para pôr mais à mostra o descaso dos seus subordinados.
Os jornais, com aquele seu louvável bom senso de sempre, aproveitaram a oportunidade para reforçar as suas reclamações contra a falta de policiamento nos subúrbios.
Leio sempre essas reclamações e pasmo. Moro nos subúrbios há muitos anos e tenho o hábito de ir para a casa alta noite.
Uma vez ou outra encontro um vigilante noturno, um policial e muito poucas vezes é-me dado ler notícias de crimes nas ruas que atravesso.
A impressão que tenho é de que a vida e a propriedade daquelas paragens estão entregues aos bons sentimentos dos outros e que os pequenos furtos de galinhas e coradouros não exigem um aparelho custoso de patrulhas e apitos.
Aquilo lá vai muito bem, todos se entendem livremente e o Estado não precisa intervir corretivamente para fazer respeitar a propriedade alheia.
Penso mesmo que, se as coisas não se passassem assim, os vigilantes, obrigados a mostrar serviço, procurariam meios e modos de efetuar detenções e os notívagos, como eu, ou os pobres-diabos que lá procuram dormida, seriam incomodados, com pouco proveito para a lei e para o Estado.
Os policiais suburbanos têm toda a razão. Devem continuar a dormir. Eles, aos poucos, graças ao calejamento do ofício, se convenceram de que a polícia é inútil.
Ainda bem.
Vida urbana, 28-12-1914 A universidade Voltam os jornais a falar que é tenção do atual governo criar nesta cidade uma universidade. Não se sabe bem por quê e a que ordem de necessidades vem atender semelhante criação. Não é novo o propósito e de quando em quando, ele surge nas folhas, sem que nada o justifique. e sem que venha remediar o mal profundo do nosso chamado ensino superior.
Recordação da Idade Média, a universidade só pode ser compreendida naquele tempo de reduzida atividade técnica e científica, a ponto de, nos cursos de suas vetustas instituições de ensino, entrar no estudo de música e creio mesmo a simples aritmética.
Não é possível, hoje, aqui no Brasil, que essa tradição universitária chegou tão diluída, criar semelhante coisa que não obedece ao espírito do nosso tempo, que quer nas profissões técnicas cada vez mais especialização.
O intuito dos propugnadores dessa criação é dotar-nos com um aparelho decorativo, suntuoso, naturalmente destinado a fornecer ao grande mundo festividades brilhantes de colação de grau e sessões solenes.
Nada mais parece que seja o intuito da ereção da nossa universidade.
De todos os graus de nosso ensino, o pior é o superior; e toda a reforma radical que se quisesse fazer nele, devia começar por suprimi-lo completamente.
O ensino primário tem inúmeros defeitos, o secundário maiores, mas o superior, sendo o menos útil e o mais aparatoso, tem o defeito essencial de criar ignorantes com privilégios marcados em lei, o que não acontece com os dois outros.
Esses privilégios e a diminuição da livre concorrência que eles originam, fazem que as escolas superiores fiquem cheias de uma porção de rapazes, alguns às vezes mesmo inteligentes, que, não tendo nenhuma vocação para as profissões em que simulam estar, só têm em vista fazer exame, passar nos anos, obter diplomas, seja como for, a fim de conseguirem boas colocações no mandarinato nacional e ficarem cercados do ingênuo respeito com que o povo tolo cerca o doutor.
Outros que só se destinam a ter titulo de engenheiro que efetivamente quer ser engenheiro e assim por diante, de forma que o sujeito se dedicasse de fato aos estudos respectivos, não se consegue com um simples rótulo de universidade ou outro qualquer.
Os estudos propriamente de medicina, de engenharia, de advocacia, etc., deviam ficar separados completamente das doutrinas gerais, ciências constituídas ou não, indispensáveis para a educação espiritual de quem quer ter uma opinião e exprimi-la sobre o mundo e sobre o homem.
A esse ensino, o Estado devia subvencionar direta ou indiretamente; mas o outro, o técnico, o de profissão especial, cada um fizesse por si, exigindo o Estado para os seus funcionários técnicos que eles tivessem um estágio de aprendizagem nas suas oficinas, estradas, hospitais, etc...
Sem privilégio de espécie alguma, tendo cada um de mostrar as suas aptidões e preparo na livre concorrência com os rivais, o nível do saber e da eficiência dos nossos técnicos (palavra da moda) havia de subir muito.
A nossa superstição doutoral admite abusões que, bem examinadas, são de fazer rir.
Por exemplo, temos todos nós como coisa muito lógica que o diretor do Lloyd deve ser engenheiro civil. Por quê? Dos Telégrafos, dos Correios - por quê também?
Aos poucos, na Central do Brasil, os engenheiros foram avassalando os grandes empregos da "gema".
Por quê?
Um estudo nesse sentido exigiria um trabalho minucioso de exame de textos de leis e regulamentos que está acima da minha paciência; mas era bom que alguém tentasse fazê-lo, para mostrar que a doutomania não foi criada pelo povo, nem pela avalanche de estudantes que enche as nossas escolas superiores; mas pelos dirigentes, às vezes secundários, que a fim de satisfazer preconceitos e imposições de amizade, foram pouco a pouco ampliando os direitos exclusivos do doutor.
Ainda mais. Um dos males, decorrentes dessa superstição doutoral, está na ruindade e na estagnação mental do nosso professorado superior e secundário.
Já não bastava a indústria do ensino para fazê-lo mandrião e rotineiro, veio ainda por cima a época dos negócios e das concessões.
Explico-me:
Um moço que, aos trinta anos, se faz substituto de uma nossa faculdade ou escola superior, não quer ficar adstrito às funções de seu ensino. Pára no que aprendeu, não segue o desenvolvimento da matéria que professa. Trata de arranjar outros empregos, quando fica nisso, ou, se não - o que é pior - mete-se no mundo estridente das especulações monetárias e industriais da finança internacional.
Ninguém quer ser professor como são os da Europa, de vida modesta, escarafunchando os seus estudos, seguindo o dos outros e com eles se comunicando ou discutindo. Não; o professor brasileiro quer ser um homem de luxo e representação, para isso, isto é, para ter os meios de custear isso, deixa às urtigas os seus estudos especiais e empresta o seu prestígio aos brasseur d'affaires bem ou mal-intencionados.
Para que exemplificar? Tudo isto é muito sabido e basta que se fale em geral, para que a indicação de um mal geral não venha a aparecer como despeito e ataque pessoal.
A universidade, coisa sobremodo obsoleta, não vem curar o mal do nosso ensino que viu passar todo um século de grandes descobertas e especulações mentais de toda a sorte, sem trazer, por qualquer dos que o versavam, um quinhão por mínimo que fosse.
O caminho é outro; é a emulação.
Feiras e mafuás, 13-3-1920 A volta O governo resolveu fornecer passagens, terras, instrumentos aratórios, auxílio por alguns meses às pessoas e famílias que se quiserem instalar em núcleos coloniais nos Estados de Minas e Rio de Janeiro.
Os jornais já publicaram fotografias edificantes dos primeiros que foram procurar passagens na chefatura de polícia.
É duro entrar naquele lugar. Há um tal aspecto de sujidade moral, de indiferença pela sorte do próximo, de opressão, de desprezo por todas as leis, de ligeirezas em deter, em prender, em humilhar, que eu, que lá entrei como louco, devido à inépcia de um delegado idiota, como louco, isto é, sagrado, diante da fotografia que estampam os jornais, enchi-me de uma imensa piedade por aqueles que lá foram como pobres, como miseráveis, pedir, humilhar-se diante desse Estado que os embrulhou.
Porque o Senhor Rio Branco, o primeiro brasileiro, como aí dizem, cismou que havia de fazer do Brasil grande potência, que devia torná-lo conhecido na Europa, que lhe devia dar um grande exército, uma grande esquadra, de elefantes paralíticos, de dotar a sua capital de avenidas, de boulevards, elegâncias bem idiotamente binoculares e toca a gastar dinheiro, toca a fazer empréstimos; e a pobre gente que mourejava lá fora, entre a febre palustre e a seca implacável, pensou que aqui fosse o Eldorado e lá deixou as suas choupanas, o seu sapé, o seu aipim, o seu porco, correndo ao Rio de Janeiro a apanhar algumas moedas da cornucópia inesgotável.
Ninguém os viu lá, ninguém quis melhorar a sua sorte no lugar que o sangue dos seus avós regou o eito. Fascinaram-nos para a cidade e eles agora voltam, voltam pela mão da polícia como reles vagabundos.
É assim o governo: seduz, corrompe e depois... uma semicadeia.
A obsessão de Buenos Aires sempre nos perturbou o julgamento das coisas.
A grande cidade do Prata tem um milhão de habitantes; a capital argentina tem longas ruas retas; a capital argentina não tem pretos; portanto, meus senhores, o Rio de Janeiro, cortado de montanhas, deve ter largas ruas retas; o Rio de Janeiro, num país de três ou quatro grandes cidades, precisa ter um milhão; o Rio de Janeiro, capital de um país que recebeu durante quase três séculos milhões de pretos, não deve ter pretos.
E com semelhantes raciocínios foram perturbar a vida da pobre gente que vivia a sua medíocre vida aí por fora, para satisfazer obsoletas concepções sociais, tolas competições patrióticas, transformando-lhes os horizontes e dando-lhes inexeqüíveis esperanças.
Voltam agora; voltam, um a um, aos casais, às famílias para a terra, para a roça, donde nunca deviam ter ido para atender tolas vaidades de taumaturgos políticos e encher de misérias uma cidade cercada de terras abandonadas que nenhum dos nossos consumados estadistas soube ainda torná-las produtivas e úteis.
O Rio civiliza-se!
Vida urbana, 26-1-1915 Anúncios... anúncios...
Quando bati à porta do gabinete de trabalho do meu amigo, ele estava estirado num divã improvisado com tábuas, caixões e um delgado colchão, lendo um jornal. Não levantou os olhos do quotidiano, e disse-me, naturalmente:
- Entra.
Entrei e sentei-me a uma cadeira de balanço, à espera de que ele acabasse a leitura, para darmos começo a um dedo de palestra. Ele, porém, não tirava os olhos do jornal que lia, com a atenção de quem está estudando coisas transcendentes. Impaciente, tirei um cigarro da algibeira, acendi-o e pus-me a fumá-lo sofregamente. Afinal, perdendo a paciência, fiz abruptamente:
- Que diabo tu lês aí, que não me dás nenhuma atenção?
- Anúncios, meu caro; anúncios...
- É o recurso dos humoristas à cata de assuntos, ler anúncios.
- Não sou humorista e, se leio os anúncios, é para estudar a vida e a sociedade. Os anúncios são uma manifestação delas: e às vezes, tão brutalmente as manifestam que a gente fica pasmo com a brutalidade deles. Vê tu os termos deste: "Aluga-se a gente branca, casal sem filhos, ou moço do comércio, um bom quarto de frente por 60$ mensais, adiantados, na Rua D., etc., etc." Penso que nenhum miliardário falaria tão rudemente aos pretendentes a uma qualquer de suas inúmeras casas; entretanto, o modesto proprietário de um cômodo de sessenta mil-réis não tem circunlóquios.
- Que concluis daí?
- O que todos concluem. Mais vale depender dos grandes e dos poderosos do que dos pequenos que tenham, porventura, uma acidental distinção pessoal. O doutor burro é mais pedante que o doutor inteligente e ilustrado.
- Estás a fazer uma filosofia de anúncios?
- Não. Verifico nos anúncios velhos conceitos e preconceitos. Queres um outro? Ouve:
"Senhora distinta, residindo em casa confortável, aceita uma menina para criar e educar com carinhos de mãe. Preço razoável.Cartas para este escritório, a Mme., etc., etc."
Que te parece este anúncio, meu caro Jarbas?
- Não lhe enxergo nada de notável.
- Pois possui.
- Não vejo em quê.
- Nisto: essa senhora distinta quer criar e educar com carinhos de mãe, uma menina; mas pede paga, preço razoável - lá está. É como se ela cobrasse os carinhos que distribuísse aos filhos e filhas. Percebeste?
- Percebo.
- Outra coisa que me surpreende, na leitura da seção de anúncios dos jornais, é a quantidade de cartomantes, feiticeiros, adivinhos, charlatães de toda a sorte que proclamam, sem nenhuma cerimônia, sem incômodos com a polícia, as suas virtudes sobre-humanas, os seus poderes ocultos, a sua capacidade milagrosa. Neste jornal, hoje, há mais de dez neste sentido. Vou ler este, que é o maior e o mais pitoresco. Escuta: "Cartomante - Dona Maria Sabida, consagrada pelo povo como a mais perita e a última palavra da cartomancia, e a última palavra em ciências ocultas; às excelentíssimas famílias do interior e fora da cidade, consultas por carta, sem a presença das pessoas, única neste gênero - máxima seriedade e rigoroso sigilo: residência à rua Visconde de xxx, perto das barcas, em Niterói, e caixa postal número x, Rio de Janeiro. Nota: - Maria Sabida é a cartomante mais popular em todo o Brasil". Não há dúvida alguma que essa gente tem clientela; mas o que julgo inadmissível é que se permita que "cavadoras" e "cavadores" venham a público, pela imprensa, aumentar o número de papalvos que acreditam neles. É tolerância demais.
- Mas, Raimundo, donde te veio essa mania de ler anúncios e fazer considerações sobre eles?
- Eu te conto, com algum vagar.
- Pois conta lá!
Eu me dava, há mais de um decênio, com um rapaz, cuja família paterna conheci. - Um belo dia, ele me apareceu casado. Não julguei a coisa acertada, porque, ainda muito moço, estouvado de natureza e desregrado de temperamento, um casamento prematuro desses seria fatalmente um desastre. Não me enganei. Ele era gastador e ela não lhe ficava atrás. Os vencimentos do seu pequeno emprego não davam para os caprichos de ambos, de forma que a desarmonia surgiu logo entre eles. Vieram filhos, moléstias, e as condições pecuniárias do ménage foram ficando atrozes e mais atrozes as relações entre os cônjuges. O marido, muito orgulhoso, não queria aceitar os socorros dos sogros. Não por estes, que eram bons e suasórios; mas pela fatuidade dos outros parentes da mulher, que não cessavam de lançar na cara desta os favores que recebia dos pais e decuplicar os defeitos do seu marido.
Freqüentemente brigavam, e todos nós, amigos do marido, que éramos também envolvidos no desprezo liliputiano dos parentes da mulher, intervínhamos e conseguíamos apaziguar as coisas por algum tempo. Mas a tempestade voltava, e era um eterno recomeçar. Por vezes, desanimávamos; mas não nos era possível deixá-los entregues a eles mesmos, pois ambos pareciam ter pouco juízo e não saber afrontar dificuldades materiais com resignação.
Um belo dia, isto foi há bem quatro anos, depois de uma disputa infernal, a mulher deixa o lar conjugal e procura hospedagem na casa de uma pessoa amiga, nos subúrbios. Todos nós, os amigos do marido, sabíamos disso; mas fazíamos constar que ela estava fora com os filhos.
Em determinada manhã, aqui mesmo, recebo uma carta com letra de mulher. Não estava habituado a semelhantes visitas e abri a carta com medo. Que seria? Fiz uma porção de conjecturas; e, embora com os olhos turvos, consegui ler o bilhete. Nele, a mulher do meu amigo pedia-me que a fosse ver, à rua tal, número tanto, estação xxx, para se aconselhar comigo. Fui de coração leve, porque a minha intenção era perfeitamente honesta. Em lá chegando, ela me contou toda a sua desdita, passou dez descomposturas no marido e disse-me que não queria saber mais dele, sendo a sua tenção ir para o interior trabalhar. Perguntei-lhe com o que contava. Na sua ingenuidade de menina pobre, criada com fumaças de riqueza, ela me mostrou um anúncio.
- Então, é daí?
- É daí, sim.
- Que dizia o anúncio?
- Que, em Rio Claro ou São Carlos, não sei, numa localidade do interior de São Paulo, precisavam-se moças para trabalhar em costuras, pagando-se bem. Ela me perguntou se devia responder, oferecendo-se. Disse-lhe que não e expliquei-lhe a razão. Tão ingênua era ela, que ainda não tinha atinado com a malandragem do anunciante... Despedi-me convencido de que seguiria o meu conselho leal; mas, estava tão fascinada e amargurada, que não me atendeu.
Respondeu.
- Como soubeste?
- Por ela mesma. Ela me mandou chamar novamente e mostrou-me a resposta do meliante. Era uma cartinha melosa, com pretensões de amorosa, em que ele, o desconhecido correspondente, insinuava que coisa melhor do que costuras ela iria encontrar em Rio Claro ou São Carlos, junto dele. Pedia-lhe o retrato e, logo que fosse recebido, se agradasse, viria buscála. Era rico, podia fazer.
- Que disseste?
- O que devia dizer e já tinha dito, pois já previa que o tal anúncio fosse uma cilada, e cilada das mais completas. Que dizes agora do meu pendor pelas leituras de anúncios?
- Tem o que se aprender.
- É isto, meu caro: há anúncios e... anúncios...
Feiras e mafuás, s.d.
As enchentes A5 chuvaradas de verão, quase todos os anos, causam no nosso Rio de Janeiro, inundações desastrosas.
Além da suspensão total do tráfego, com uma prejudicial interrupção das comunicações entre os vários pontos da cidade, essas inundações causam desastres pessoais lamentáveis, muitas perdas de haveres e destruição de imóveis.
De há muito que a nossa engenharia municipal se devia ter compenetrado do dever de evitar tais acidentes urbanos.
Uma arte tão ousada e quase tão perfeita, como é a engenharia, não deve julgar irresolvível tão simples problema.
O Rio de Janeiro, da avenida, dos squares, dos freios elétricos, não pode estar à mercê de chuvaradas, mais ou menos violentas, para viver a sua vida intagral.
Como está acontecendo atualmente, ele é função da chuva. Uma vergonha!
Não sei nada de engenharia, mas, pelo que me dizem os entendidos, o problema não é tão difícil de resolver como parece fazerem constar os engenheiros municipais, procrastinando a solução da questão.
O Prefeito Passos, que tanto se interessou pelo embelezamento da cidade, descurou completamente de solucionar esse defeito do nosso Rio.
Cidade cercada de montanhas e entre montanhas, que recebe violentamente grandes precipitações atmosféricas, o seu principal defeito a vencer era esse acidente das inundações.
Infelizmente, porém, nos preocupamos muito com os aspectos externos, com as fachadas, e não com o que há de essencial nos problemas da nossa vida urbana, econômica, financeira e social.
Vida urbana, 19-1-1915 Coisas de "mafuá"
- Mas, onde esteve você, Jaime?
- Onde estive?
- Sim; onde você esteve?
- Estive no xadrez.
- Como?
- Por causa de você.
- Por minha causa? Explique-se, vá!
- Desde que você se meteu como barraqueiro do imponente Bento, consultor técnico do “mafuá" do padre A, que o azar me persegue.
- Então eu havia de deixar de ganhar uns "cobres"?
- Não sei; a verdade, porém, é que essas relações entre você, Bento e "mafuá" trouxeramme urucubaca. Não se lembra você da questão do pau?
- Isto foi há tanto tempo!... Demais o Capitão Bento nada tinha a ver com o caso. Ele só pagou para derrubar a arvore; mas você...
- Vendi o pau, para lenha, é verdade. Uma coisa à toa de que você fez um “lelé” medonho e, por causa, quase nós brigamos.
- Mas o capitão não tinha nada com o caso.
- À vista de todos, não; mas foi o azar dele que envenenou a questão.
- Qual, azar! qual nada! O capitão tem os seus "quandos" e não há negócios que se meta, que não lhe renda bastante.
- Isto é para ele; mas, para os outros que se metem com ele, sempre a roda desanda.
- Comigo não se tem dado isso.
- Como, não?
- Sim. Tenho ganho "algum" - como posso me queixar?
- Grande coisa! O dinheiro que ele te dá, não serve pra nada. Mal vem, logo vai.
- A culpa é minha que o gasto; mas do que não é minha culpa - fique você sabendo - é que você tenha sido metido no xadrez.
- Pois foi. Domingo, anteontem, não fui ao "mafuá" de você?
- Meu, não! É do padre ou da irmandade.
- De você, do padre, da irmandade, do Bento ou de quem quer que seja, o certo é que lá fui e caí na asneira de jogar na tua barraca.
- Homessa! Você foi até feliz!... Tirou uma galinha! Não foi?
- Tirei - é verdade; mas a galinha do "mafuá" foi que me levou a visitar o xadrez.
- Qual o quê!
- Foi, Pena! Eu não tirei a "indrômita" à última hora?
- Tirou; e não vi você mais.
- Tentei passá-la ao Bento, por três mil-réis, como era costume; mas ele não quis aceitar.
- Por força! A galinha já tinha sido resgatada três ou quatro vezes, não ficava bem...
- A questão, porém, não é essa. Comprei A Noite, embrulhei nela a galinha e tomei o bonde para Madureira. No meio da viagem, o bicho começou a cacarejar. Tentei acalmar o animal; ele, porém, não estava pelos autos e continuou: "crá-crá-cá, cró-cró-có". Os passageiros caem na gargalhada; e o condutor me põe fora do bonde e, tenho eu que acabar a viagem a pé.
- Até aí...
- Espere. O papel estava despedaçado e, também, para maior comodidade, resolvi carregar a galinha pelos pés. Ia assim, quando me surge pela frente a "canoa" dos agentes.
Suspeitaram da proveniência da galinha; não quiseram acreditar que eu a tivesse tirado do "mafuá". E, sem mais aquela, fui levado para o distrito e metido no xadrez, como ladrão de galinheiros. Iria para a "central", para a colônia, se não fosse ter aparecido o caro Bernadino que me conhecia, e afiançou que eu não era vasculhador de quintais, à alta hora da noite.
- Mas que tem isso com o “mafuá"?
- Muita coisa: vocês deviam fazer a coisa clara; dar logo o dinheiro de prêmio e não galinhas, bodes, carneiros, patos e outros bicharocos que, carregados alta noite, fazem a polícia tome um qualquer por ladrão... Eis aí.
Marginália, 22-1-1921 Como é?
Noticiam os jornais que a polícia prendeu dois vadios e, de acordo com as leis e o código;
processou-os por vadiagem Até ai a coisa não tem grande importância. Em toda a sociedade, há de haver por força vadios.
Uns, por doença nativa; outros, por vício.
Tem havido até vadios bem notáveis.
Dante foi um pouco vagabundo; Camões, idem; Bocage também; e muitos outros que figuram nos dicionários biográficos e têm estátua na praça pública.
Não vem, tudo isto ao caso; mas uma idéia puxa outra...
O que há de curioso no caso de polícia de que vos falei, é que os tais vadios logo se prontificaram a prestar fiança de quinhentos-réis, cada um, para se defenderem soltos. Como é isto? Vagabundos possuidores de tão importante quantia? Há muito homem morigerado e trabalhador, por aí, que nunca viu tal dinheiro.
Deve haver engano, por força.
De resto, se não o há, sou de parecer que a tal lei está mal feita.
O legislador nunca devia admiti que vadios, homens que nada fazem, portanto, não ganham, pudessem dispor de dinheiro, e dinheiro grosso, para se afiançarem.
Ou eles o têm e obtiveram-no por meios e, portanto, não são vadios; ou, tendo-o e não trabalhando, são coisas muito diferentes de simples vadios.
Quem cabras não tem e cabritos vende...
Não sou, pois, bacharel, jurista, nem rábula e fico aqui.
Marginália, s.d.
Conhecem?
Eu não sei que mania se meteu na nossa cabeça moderna de que. todas as dificuldades da sociedade se podem obviar mediante a promulgação de um regulamento executado mais ou menos pela coação autoritária de representantes do governo.
Nesse caso de criados, o fato é por demais eloqüente e pernicioso.
Por que regulamentar-se o exercício da profissão de criado? Por que obrigá-los a uma inscrição dolorosa nos registros oficiais, para tornar ainda mais dolorosa a sua situação dolorosa?
Por quê?
Porque pode acontecer que sejam metidos nas casas dos ricos ladrões ou ladras; porque pode acontecer que o criado, um dado dia, não queira mais fazer o serviço e se vá embora.
Não há outras justificativas senão estas, e são bem tolas.
Os criados sempre fizeram parte da família: é concepção e sentimento que passaram de Roma para a nobreza feudal e as suas relações com os patrões só podem ser reguladas entre eles.
A Revolução, aniquilando a organização da família feudal, trouxe à tona essa questão da famulagem; mas, mesmo assim, ela não rompeu o quadro familiar de modo a impedir que os seus chefes regulem a admissão de estranhos no lar.
A obrigação do dono ou dona de casa que procura um criado, que o põe debaixo do seu teto, é saber quem ele é; o resto não passa de opressão do governo sobre os humildes, para servir à comodidade burguesa.
Querem fazer das nossas vidas, dos indivíduos, das almas, uma gaveta de fichas. Cada um tem que ter a sua e, para obtê-la, pagar emolumentos, vencer a ronha burocrática, lidar com funcionários arrogantes e invisíveis, como em geral, são os da polícia.
Imagino-me amanhã na mais dura miséria, sem parentes, sem amigos. Sonho fazer-me esquivo e bato à primeira porta. Seria aceito, mas é preciso a ficha.
Vou buscar a ficha e a ficha custa vinte ou trinta mil-réis. Como arranjá-los?
Eis aí as belezas da regulamentação, desse exagero de legislar, que é o característico da nossa época.
Toda a gente sabe a que doloroso resultado tem chegado semelhante mania.
Inscrito um tipo nisto ou naquilo, ele está condenado a não sair dali, a ficar na casta ou na classe, sem remissão nem agravo.
Deixemos esse negócio entre patrões e criados, e não estejamos aqui a sobrecarregar a vida dos desgraçados com exigências e regulamentos que os condenarão toda a sua vida à sua lamentável desgraça.
Os senhores conhecem a regulamentação da prostituição em Paris? Os senhores conhecem o caso de Mme. Comte? Oh! meu Deus!
Vida urbana, 15-1-1915 Elogio da morte Não sei quem foi que disse que a Vida é feita pela Morte. É a destruição contínua e perene que faz a vida.
A esse respeito, porém, eu quero crer que a Morte mereça maiores encômios.
É ela que faz todas as consolações das nossas desgraças; é dela que nós esperamos a nossa redenção; é ela a quem todos os infelizes pedem socorro e esquecimento.
Gosto da Morte porque ela é o aniquilamento de todos nós; gosto da Morte porque ela nos sagra. Em vida, todos nós só somos conhecidos pela calúnia e maledicência, mas, depois que Ela nos leva, nós somos conhecidos (a repetição é a melhor figura de retórica), pelas nossas boas qualidades.
É inútil estar vivendo, para ser dependente dos outros; é inútil estar vivendo para sofrer os vexames que não merecemos.
A vida não pode ser uma dor, uma humilhação de contínuos e burocratas idiotas; a vida deve ser uma vitória. Quando, porém, não se pode conseguir isso, a Morte é que deve vir em nosso socorro.
A covardia mental e moral do Brasil não permite movimentos. de independência; ela só quer acompanhadores de procissão, que só visam lucros ou salários nós pareceres. Não há, entre nós, campo para as grandes batalhas de espírito e inteligência. Tudo aqui é feito com o dinheiro e os títulos. A agitação de uma idéia não repercute na massa e quando esta sabe que se trata de contrariar uma pessoa poderosa, trata o agitador de louco.
Estou cansado de dizer que os malucos foram os reformadores do mundo.
Le Bon dizia isto a propósito de Maomé, nas suas Civilisation des arabes, com toda a razão; e não há chanceler falsificado e secretária catita que o possa contestar..
São eles os heróis; são eles os reformadores; são eles os iludidos; são eles que trazem as grandes idéias, para melhoria das condições da existência da nossa triste Humanidade.
Nunca foram os homens de bom senso, os honestos burgueses ali da esquina ou das secretárias chics que fizeram as grandes reformas no mundo.
Todas elas têm sido feitas por homens, e, às vezes mesmo mulheres, tidos por doidos.
A divisa deles consiste em não ser panurgianos e seguir a opinião de todos, por isso mesmo podem ver mais longe do que os outros.
Se nós tivéssemos sempre a opinião da maioria, estaríamos ainda no Cro-Magnon e não teríamos saído das cavernas.
O que é preciso, portanto, é que cada qual respeite a opinião .de qualquer, para que desse choque surja o esclarecimento do nosso destino, para própria felicidade da espécie humana.
Entretanto, no Brasil, não se quer isto. Procura-se abafar as opiniões, para só deixar em campo os desejos dos poderosos e prepotentes.
Os órgãos de publicidade por onde se podiam elas revelar, são fechados e não aceitam nada que os possa lesar.
Dessa forma, quem, como eu nasceu pobre e não quer ceder uma linha da sua independência de espírito e inteligência, só tem que fazer elogios à Morte.
Ela é a grande libertadora que não recusa os seus benefícios a quem lhe pede. Ela nos resgata e nos leva à luz de Deus.
Sendo assim, eu a sagro, antes que ela me sagre na minha pobreza, na minha infelicidade, na minha desgraça e na minha honestidade.
Ao vencedor, as batatas!
Marginália, 19-10-1918 Grève inútil Os empregados dos bancos de Berlim declararam-se em grève Está aí uma grève para muita gente bastante sem significação. Eu, por exemplo, nunca tive a mínima idéia da serventia de um banco.
Para mim, tal instituição como muitas outras coisas, absolutamente coisas quiméricas.
Por isso, fico sempre muito admirado que toda a gente peça bancos para o desenvolvimento do país.
Eu não sei por quê, nem para quê.
Não são só os bancos cuja existência acho inútil. Há coisas, entre as quais posso citar assim de pronto: jóias, as representações no Municipal, além dos navios transatlânticos que levam os homens felizes e os revolucionários estrangeiros para a Europa.
Muito tem demais o mundo, para minha existência; mas nem por isso deixo de apreciar o supérfluo nos outros.
O banco, porém, é que não vejo para mim, nem nos outros das minhas relações.
O único que conheci, foi o dos Funcionários Públicos, mas esse não me deixou boas recordações.
Agora, porém, os de Berlim, por intermédio de seus empregados, por terem aderido ao socialismo, anarquismo ou coisa que valha, estão empregando também a malsinada greve.
Não me compete censurá-los por isso, pois o uso da grève generaliza-se em todas as profissões; o que me parece, porém, é que essa grève só pode interessar os capitalistas e, certamente, esses não estarão dispostos a dar o seu apoio a essa arma com que os guerreiam os seus inimigos.
Essa grève vai resultar inútil, daí pode ser que não e até concorra muito para a solução da questão social.
Veremos.
Marginália, 22-5-1920 Maio Estamos em maio, o mês das flores, o mês sagrado pela poesia. Não é sem emoção que o vejo entrar. Há em minha alma um renovamento; as ambições desabrocham de novo e, de novo, me chegam revoadas de sonhos. Nasci sob o seu signo, a treze, e creio que em sextafeira; e, por isso, também à emoção que o mês sagrado me traz, se misturam recordações da minha meninice.
Agora mesmo estou a lembrar-me que, em 1888, dias antes da data áurea, meu pai chegou em casa e disse-me: a lei da abolição vai passar no dia de teus anos. E de fato passou;
e nós fomos esperar a assinatura no largo do Paço.
- Na minha lembrança desses acontecimentos, o edifício do antigo paço, hoje repartição dos Telégrafos, fica muito alto, um sky-scraper; e lá de uma das janelas eu vejo um homem que acena para o povo.
Não me recordo bem se ele falou e não sou capaz de afirmar se era mesmo o grande Patrocínio.
Havia uma imensa multidão ansiosa, com o olhar preso às janelas do velho casarão.
Afinal a lei foi assinada e, num segundo, todos aqueles milhares de pessoas o souberam. A
princesa veio à janela. Foi uma ovação: palmas, acenos com lenço, vivas...
Fazia sol e o dia estava claro. Jamais, na .minha vida, vi tanta alegria. Era geral, era total;
e os dias que se seguiram, dias de folganças e satisfação, deram-me uma visão da vida inteiramente festa e harmonia.
Houve missa campal, no Campo de São Cristóvão. Eu fui também com meu pai; mas pouco me recordo dela, a não ser lembrar-me que, ao assisti-la, me vinha aos olhos a Primeira missa, de Vitor Meireles. Era como se o Brasil tivesse sido descoberto outra vez... Houve o barulho de bandas de músicas, de bombas e girândolas, indispensável aos nossos regozijos; e houve também préstitos cívicos. Anjos despedaçando grilhões, alegrias toscas passaram lentamente pelas ruas. Construíram-se estrados para bailes populares; houve desfile de batalhões escolares e eu me lembro que vi a princesa imperial, na porta da atual Prefeitura, cercada de filhos, assistindo àquela fieira de numerosos soldados desfiar devagar. Devia ser de tarde, ao anoitecer.
Ela me parecia loura, muito loura, maternal, com um olhar doce e apiedado. Nunca mais a vi e o imperador nunca vi, mas me lembro dos seus carros, aqueles enormes carros dourados, puxados por quatro cavalos, com cocheiros montados e um criado à traseira.
Eu tinha então sete anos e o cativeiro não me impressionava. Não lhe imaginava o horror;
não conhecia a sua injustiça. Eu me recordo, nunca conheci uma pessoa escrava. Criado no Rio de Janeiro, na cidade, onde já os escravos rareavam, faltava-me o conhecimento direto da vexatória instituição, para lhe sentir bem os aspectos hediondos.
Era bom-saber se a alegria que trouxe à cidade a lei da abolição foi geral pelo país. Havia de ser, porque já tinha entrado na consciência de todos a injustiça originária da escravidão.
Quando fui para o colégio, um colégio público, à rua do Resende, a alegria entre a criançada era grande. Nós não sabíamos o alcance da lei, mas a alegria ambiente nos tinha tomado.
A professora, Dona Teresa Pimentel do Amaral, uma senhora muito inteligente, a quem muito deve o meu espírito, creio que nos explicou a significação da coisa; mas com aquele feitio mental de criança, só uma coisa me ficou: livre! livre!
Julgava que podíamos fazer tudo que quiséssemos; que dali em diante não havia mais limitação aos propósitos da nossa fantasia.
Parece que essa convicção era geral na meninada, porquanto um colega meu, depois de um castigo, me disse: "Vou dizer a papai que não quero voltar mais ao colégio. Não somos todos livres?"
Mas como ainda estamos longe de ser livres! Como ainda nos enleamos nas teias dos preceitos, das regras e das leis!
Dos jornais e folhetos distribuídos por aquela ocasião, eu me lembro de um pequeno jornal, publicado pelos tipógrafos da Casa Lombaerts. Estava bem impresso, tinha umas vinhetas elzevirianas, pequenos artigos e sonetos. Desses, dois eram dedicados a José do Patrocínio e o outro à princesa. Eu me lembro, foi a minha primeira emoção poética a leitura dele. Intitulava-se "Princesa e Mãe" e ainda tenho de memória um dos versos:
"Houve um tempo, senhora, há muito já passado..."
São boas essas recordações; elas têm um perfume de saudade e fazem com que sintamos a eternidade do tempo.
Oh! O tempo! O inflexível tempo, que como o Amor, é também irmão da Morte, vai ceifando aspirações, tirando presunções, trazendo desalentos, e só nos deixa na uma essa saudade do passado às vezes composta de coisas fúteis, cujo relembrar, porém, traz sempre prazer.
Quanta ambição ele não mata! Primeiro são os sonhos de posição: com os dias e as horas e, a pouco e pouco, a gente vai descendo de ministro a amanuense; depois são os do Amor - oh! como se desce nesses! Os de saber, de erudição, vão caindo até ficarem reduzidos ao bondoso Larousse. Viagens... Oh! As viagens! Ficamos a fazê-las nos nossos pobres quartos, com auxílio do Baedecker e outros livros complacentes.
Obras, satisfações, glórias, tudo se esvai e se esbate. Pelos trinta anos, a gente que se julgava Shakespeare, está rente que não passa de um "Mal das Vinhas" qualquer; tenazmente, porém, ficamos a viver, -esperando, esperando... o quê? O imprevisto, o que pode acontecer amanhã ou depois. Esperando os milagres do tempo e olhando o céu vazio de Deus ou Deuses, mas sempre olhando para ele, como o filósofo Guyau.
Esperando, quem sabe se a sorte grande ou um tesouro oculto no quintal?
E maio volta... Há pelo ar blandícias e afagos; as coisas ligeiras têm mais poesia; os pássaros como que cantam melhor; o verde das encostas é mais macio; um forte flux de vida percorre e anima tudo...
O mês augusto e sagrado pela poesia e pela arte, jungido eternamente à marcha da Terra, volta; e os galhos da nossa alma que tinham sido amputados - os sonhos, enchem-se de brotos muito verdes, de um claro e macio verde de pelúcia, reverdecem mais uma vez, para de novo perderem as folhas, secarem, antes mesmo de chegar o tórrido dezembro.
E assim se faz a vida, com desalentos e esperanças, com recordações e saudades, com tolices e coisas sensatas, com baixezas e grandezas, à espera da morte, da doce morte, padroeira dos aflitos e desesperados...
Feiras e mafuás, 4-5-1911 Mais uma vez Este recente crime da rua da Lapa traz de novo à tona essa questão do adultério da mulher e seu assassinato pelo marido.
Na nossa hipócrita sociedade, parece estabelecido como direito, e mesmo dever do marido, o perpetrá-lo.
Não se dá isto nesta ou naquela camada, mas de alto a baixo.
Eu me lembro ainda hoje que, numa tarde de vadiação, há muitos anos, fui parar com o meu amigo, já falecido Ari Toom, no necrotério, no largo do Moura por aquela época.
Uma rapariga - nós sabíamos isso pelos jornais - creio que espanhola, de nome Combra, havia sido assassinada pelo amante e, suspeitava-se, ao mesmo tempo marquereau dela, numa casa da rua de Sant'Ana.
O crime teve a repercussão que os jornais lhe deram e os arredores do necrotério estavam povoados da população daquelas paragens e das adjacências do beco da Música e da rua da Misericórdia, que o Rio de Janeiro bem conhece. No interior da morgue 2, era a freqüência algo diferente sem deixar de ser um pouco semelhante à do exterior, e, talvez mesmo, em substância igual, mas muito bem vestida. Isto quanto às mulheres - bem entendido!
Ari ficou mais tempo a contemplar os cadáveres. Eu saí logo. Lembro-me só do da mulher que estava vestida com um corpete e tinha só a saia de baixo. Não garanto que estivesse calçada com as chinelas, mas me parece hoje que estava. Pouco sangue e um furo bem circular no lado esquerdo, com bordas escuras, na altura do coração.
Escrevi - cadáveres - pois o amante-cáften se havia suicidado após matar a Combra - o que me havia esquecido de dizer.
Como ia contando, vim para o lado de fora e pus-me a ouvir os comentários daquelas pobres pierreuses de todas as cores, sobre o fato.
Não havia uma que tivesse compaixão da sua colega da aristocrática classe. Todas elas tinham objurgatórias terríveis, condenando-a, julgando o seu assassínio coisa bem feita; e, se fossem homens, diziam, fariam o mesmo - tudo isto entremeado de palavras do calão obsceno próprias para injuriar uma mulher. Admirei-me e continuei a ouvir o que diziam com mais atenção. Sabem por que eram assim tão severas com a morta?
Porque a supunham casada com o matador e ser adúltera.
Documentos tão fortes como este não tenho sobre as outras camadas da sociedade; mas, quando fui jurado e, tive por colegas os médicos da nossa terra, funcionários e doutos de mais de três contos e seiscentos mil-réis de renda anual como manda a lei sejam os juizes de fato escolhidos, verifiquei que todos pensavam da mesma forma que aquelas maltrapilhas rôdeuses do largo do Moura.
Mesmo eu - já contei isto alhures - servi num conselho de sentença que tinha de julgar um uxoricida e o absolvi. Fui fraco, pois a minha opinião, se não era falhe comer alguns anos de cadeia, era manifestar que havia, e no meu caso completamente incapaz de qualquer conquista, um homem que lhe desaprovava a barbaridade do ato. Cedi a rogos e, até, alguns partidos dos meus colegas de sala secreta.
No caso atual, neste caso da rua da Lapa, vê-se bem como os defensores do criminoso querem explorar essa estúpida opinião de nosso povo que desculpa o uxoricídio quando há adultério, e parece até impor ao marido ultrajado dever de matar a sua ex-cara-metade.
Que um outro qualquer advogado explorasse essa abusão bárbara da nossa gente, vá lá;
mas que o Senhor Evaristo de Morais, cuja ilustração, cujo talento e cujo esforço na vida me causam tanta admiração, endosse, mesmo profissionalmente, semelhante doutrina é que me entristece. O liberal, o socialista Evaristo, quase anarquista, está me parecendo uma dessas engraçadas feministas Brasil, gênero professora Daltro, que querem a emancipação da mulher unicamente para exercer sinecuras do governo e rendosos cargos políticos; mas que, quando se trata desse absurdo costume nosso de perdoar os maridos assassinos de suas mulheres, por isso ou aquilo, nada dizem e ficam na moita.
A meu ver, não há degradação maior para a mulher do que semelhante opinião quase geral; nada a degrada mais do que isso, penso eu. Entretanto...
Às vezes mesmo, o adultério é o que se vê e o que não se vê são outros interesses e despeitos que só uma análise mais sutil podia revelar nesses lagos.
No crime da rua da Lapa, o criminoso, o marido, o interessado no caso, portanto, não alegou quando depôs sozinho que a sua mulher fosse adúltera; entretanto, a defesa, lemos nos jornais, está procurando "justificar" que ela o era.
O crime em si não me interessa, senão no que toca à minha piedade por ambos; mas, se houvesse de escrever um romance, e não é o caso, explicaria, ainda me louvando nos jornais, a coisa de modo talvez satisfatório.
Não quero, porém, escrever romances e estou mesmo disposto a não escrevê-los mais, se algum dia escrevi um, de acordo com os cânones da nossa crítica; por isso guardo as minhas observações e ilusões para o meu gasto e para o julgamento da nossa atroz sociedade burguesa, cujo espírito, cujos imperativos da nossa ação na vida animaram, o que parece absurdo, mas de que estou absolutamente certo - O protagonista do lamentável drama da rua da Lapa.
Afastei-me do meu objetivo, que era mostrar a grosseria, a barbaridade desse nosso costume de achar justo que o marido mate a mulher adúltera ou que a crê tal.
Toda a campanha para mostrar a iniqüidade de semelhante julgamento não será perdida;
e não deixo passar vaza que não diga algumas toscas palavras, condenando-o.
Se a coisa continuar assim, em breve, de lei costumeira, passará a lei escrita e retrogradamos às usanças selvagens que queimavam e enterravam vivas as adúlteras.
Convém entretanto lembrar que, nas velhas legislações, havia casos de adultério legal.
Creio que Sólon e Licurgo os admitia; creio mesmo ambos. Não tenho aqui o meu Plutarco.
Seja, porém, como for, não digo que todos os adultérios são perdoáveis. Pior do que o adultério é o assassinato; e nós queremos criar uma espécie dele baseado na lei.
Bagatelas, s.d.
Não as matem Esse rapaz que, em Deodoro, quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida, é um sintoma da revivescência de um sentimento que parecia ter morrido no coração dos homens: o domínio, quand même, sobre a mulher.
O caso não é único. Não há muito tempo, em dias de carnaval, um rapaz atirou sobre a ex-noiva, lá pelas bandas do Estácio, matando-se em seguida. A moça com a bala na espinha, veio morrer, dias após, entre sofrimentos atrozes.
Um outro, também, pelo carnaval, ali pelas bandas do ex-futuro Hotel Monumental, que substituiu com montões de pedras o vetusto Convento da Ajuda, alvejou a sua ex-noiva e matou-a.
Todos esses senhores parece que não sabem o que é a vontade dos outros.
Eles se julgam com o direito de impor o seu amor ou o seu desejo a quem não os quer.
Não sei se se julgam muito diferentes dos ladrões à mão armada; mas o certo é que estes não nos arrebatam senão o dinheiro, enquanto esses tais noivos assassinos querem tudo que é de mais sagrado em outro ente, de pistola na mão.
O ladrão ainda nos deixa com vida, se lhe passamos o dinheiro; os tais passionais, porém, nem estabelecem a alternativa: a bolsa ou a vida. Eles, não; matam logo.
Nós já tínhamos os maridos que matavam as esposas adúlteras; agora temos os noivos que matam as ex-noivas.
De resto, semelhantes cidadãos são idiotas. É de supor que, quem quer casar, deseje que a sua futura mulher venha para o tálamo conjugal com a máxima liberdade, com a melhor boavontade, sem coação de espécie alguma, com ardor até, com ânsia e grandes desejos; como e então que se castigam as moças que confessam não sentir mais pelos namorados amor ou coisa equivalente?
Todas as considerações que se possam fazer, tendentes a convencer os homens de que eles não têm sobre as mulheres domínio outro que não aquele que venha da afeição, não devem ser desprezadas.
Esse obsoleto domínio à valentona, do homem sobre a mulher, é coisa tão horrorosa, que enche de indignação.
O esquecimento de que elas são, como todos nós, sujeitas, a influências várias que fazem flutuar as suas inclinações, as suas amizades, os seus gostos, os seus amores, é coisa tão estúpida, que, só entre selvagens deve ter existido.
Todos os experimentadores e observadores dos fatos morais têm mostrado a inanidade de generalizar a eternidade do amor.
Pode existir, existe, mas, excepcionalmente; e exigi-la nas leis ou a cano de revólver, é um absurdo tão grande como querer impedir que o sol varie a hora do seu nascimento.
Deixem as mulheres amar à vontade.
Não as matem, pelo amor de Deus!
Vida urbana, 27-l-1915 Não se zanguem A cartomancia entrou decididamente na vida nacional Os anúncios dos jornais todos os dias proclamam aos quatro ventos as virtudes miríficas das pitonisas.
Não tenho absolutamente nenhuma ojeriza pelas adivinhas; acho até que são bastante úteis, pois mantêm e sustentam no nosso espírito essa coisa que é mais necessária à nossa vida que o próprio pão: a ilusão.
Noto, porém, que no arraial dessa gente que lida com o destino, reina a discórdia, tal e qual no campo de Agramante.
A política, que sempre foi a inspiradora de azedas polêmicas, deixou um instante de sê-lo e passou a vara à cartomancia.
Duas senhoras, ambas ultravidentes, extralúcidas e não sei que mais, aborreceram-se e anda uma delas a dizer da outra cobras e lagartos.
Como se pode compreender que duas sacerdotisas do invisível não se entendam e dêem ao público esse espetáculo de brigas tão pouco próprio a quem recebeu dos altos poderes celestiais virtudes excepcionais?
A posse de tais virtudes devia dar-lhes uma mansuetude, uma tolerância, um abandono dos interesses terrestres, de forma a impedir que o azedume fosse logo abafado nas suas almas extraordinárias e não rebentasse em disputas quase sangrentas.
Uma cisão, uma cisma nessa velha religião de adivinhar o futuro, é fato por demais grave e pode ter conseqüências desastrosas.
Suponham que F. tenta saber da cartomante X se coisa essencial à sua vida vai dar-se e a cartomante, que e dissidente da ortodoxia, por pirraça diz que não.
O pobre homem aborrece-se, vai para casa de mau humor e é capaz de suicidar-se.
O melhor, para o interesse dessa nossa pobre humanidade, sempre necessitada de ilusões, venham de onde vier, é que as nossas cartomantes vivam em paz e se entendam para nos ditar bons horóscopos.
Vida urbana, 26-12-1914 O caso do mendigo Os jornais anunciaram, entre indignados e jocosos, que um mendigo, preso pela polícia, possuía em seu poder valores que montavam à respeitável quantia de seis contos e pouco.
Ouvi mesmo comentários cheios de raiva a tal respeito. O meu amigo X, que é o homem mais esmoler desta terra, declarou-me mesmo que não dará mais esmolas. E não foi só ele a indignar-se. Em casa de família de minhas relações, a dona da casa, senhora compassiva e boa, levou a tal ponto a sua indignação, que propunha se confiscasse o dinheiro ao cego que o ajuntou.
Não sei bem o que fez a polícia com o cego. Creio que fez o que o Código e as leis mandam; e, como sei pouco das leis e dos códigos, não, estou certo se ela praticou o alvitre lembrado pela dona da casa de que já falei.
O negócio fez-me pensar e, por pensar, é que cheguei a conclusões diametralmente opostas à opinião geral.
O mendigo não merece censuras, não deve ser perseguido, porque tem todas as justificativas a seu favor. Não há razão para indignação, nem tampouco para perseguição legal ao pobre homem.
Tem ele, em face dos costumes, direito ou não a esmolar? Vejam bem que eu não falo de leis; falo dos costumes. Não há quem não diga: sim. Embora a esmola tenha inimigos, e dos mais conspícuos, entre os quais, creio, está M. Bergeret, ela ainda continua a ser o único meio de manifestação da nossa bondade em face da miséria dos outros. Os séculos a consagraram;
e, penso, dada a nossa defeituosa organização social, ela tem grandes justificativas. Mas não é bem disso que eu quero falar. A minha questão é que, em face dos costumes, o homem tinha direito de esmolar. Isto está fora de dúvida.
Naturalmente ele já o fazia há muito tempo, e aquela respeitável quantia de seis contos talvez represente economias de dez ou vinte anos.
Há, pois, ainda esta condição a entender: o tempo em que aquele dinheiro foi junto. Se foi assim num prazo longo, suponhamos dez anos, a coisa é assim de assustar? Não é. Vamos adiante.
Quem seria esse cego antes de ser mendigo? Certamente um operário, um homem humilde, vivendo de pequenos vencimentos, tendo às vezes falta de trabalho; portanto, pelos seus hábitos anteriores de vida e mesmo pelos meios de que se servia para ganhá-la, estava habituado a economizar. É fácil de ver por quê. Os operários nem sempre têm serviço constante. A não ser os de grandes fábricas do Estado ou de particulares, os outros contam que, mais dias, menos dias, estarão sem trabalhar, portanto sem dinheiro; daí lhes vem a necessidade de economizar, para atender a essas épocas de crise.
Devia ser assim o tal cego, antes de o ser. Cegando, foi esmolar. No primeiro dia, com a falta de prática, o rendimento não foi grande; mas foi o suficiente para pagar um caldo no primeiro frege que encontrou, e uma esteira na mais sórdida das hospedarias da rua da Misericórdia. Esse primeiro dia teve outros iguais e seguidos; e o homem se habituou a comer com duzentos réis e a dormir com quatrocentos; temos, pois, o orçamento do mendigo feito:
seiscentos réis (casa e comida) e, talvez, cem réis de café; são, portanto, setecentos réis por dia.
Roupa, certamente, não comprava: davam-lha. É bem de crer que assim fosse, porque bem sabemos de que maneira pródiga nós nos desfazemos dos velhos ternos.
Está, portanto, o mendigo fixado na despesa de setecentos réis por dia. Nem mais, nem menos; é o que ele gastava. Certamente não fumava e muito menos bebia, porque as exigências do ofício haviam de afastá-lo da "caninha". Quem dá esmola a um pobre cheirando a cachaça? Ninguém.
Habituado a esse orçamento, o homenzinho foi se aperfeiçoando no ofício. Aprendeu a pedir mais dramaticamente, a aflautar melhor a voz; arranjou um cachorrinho, e o seu sucesso na profissão veio.
Já de há muito que ganhava mais do que precisava. Os níqueis caíam, e o que ele havia de fazer deles? Dar aos outros? Se ele era pobre, como podia fazer? Pôr fora? Não; dinheiro não se põe fora. Não pedir mais? Aí interveio uma outra consideração.
Estando habituado à previdência e à economia, o mendigo pensou lá consigo: há dias que vem muito; há dias que vem pouco, sendo assim, vou pedindo sempre, porque, pelos dias de muito, tiro os dias de nada. Guardou. Mas a quantia aumentava. No começo eram só vinte milréis; mas, em seguida foram quarenta, cinqüenta, cem. E isso em notas, frágeis papéis, capazes de se deteriorarem, de perderem o valor ao sabor de uma ordem administrativa, de que talvez não tivesse notícia, pois, era cego e não lia, portanto. Que fazer, em tal emergência, daquelas notas? Trocar em ouro? Pesava, e o tilintar especial dos soberanos, talvez atraísse malfeitores, ladrões. Só havia um caminho: trancafiar o dinheiro no banco. Foi, o que ele fez. Estão aí um cego de juízo e um mendigo rico.
Feito o primeiro depósito, seguiram-se a este outros; e, aos poucos, como hábito é segunda natureza, ele foi encarando a mendicidade não mais como um humilhante imposto voluntário, taxado pelos miseráveis aos ricos e remediados; mas como uma profissão lucrativa, lícita e nada vergonhosa.
Continuou com o seu cãozinho, com a sua voz aflautada, com o seu ar dorido a pedir pelas avenidas, pelas ruas comerciais, pelas casas de famílias, um níquel para um pobre cego.
Já não era mais pobre; o hábito e os preceitos da profissão não lhe permitiam que pedisse uma esmola para um cego rico.
O processo por que ele chegou a ajuntar a modesta fortuna de que falam os jornais, é tão natural, é tão simples, que, julgo eu, não há razão alguma para essa indignação das almas generosas.
Se ainda continuasse a ser operário, nós ficaríamos indignados se ele tivesse juntado o mesmo pecúlio? Não. Por que então ficamos agora?
É porque ele é mendigo, dirão. Mas é um engano. Ninguém mais que um mendigo tem necessidade de previdência. A esmola não é certa; está na dependência da generosidade dos homens, do seu estado moral psicológico. Há uns que só dão esmolas quando estão tristes, há outros que só dão quando estão alegres e assim por diante. Ora, quem tem de obter meios de renda de fonte tão incerta, deve ou não ser previdente e econômico?
Não julguem que faço apologia da mendicidade. Não só não faço como não a detrato.
Há ocasiões na vida que a gente pouco tem a escolher; às vezes mesmo nada tem a escolher, pois há um único caminho. É o caso do cego. Que é que ele havia de fazer? Guardar.
Mendigar. E, desde que da sua mendicidade veio-lhe mais do que ele precisava, que devia o homem fazer? Positivamente, ele procedeu bem, perfeitamente de acordo com os preceitos sociais, com as regras da moralidade mais comezinha e atendeu às sentenças do Bom homem Ricardo, do falecido Benjamin Franklin.
As pessoas que se indignaram com o estado próspero da fortuna do cego, penso que não refletiram bem, mas, se o fizerem, hão de ver que o homem merecia figurar no Poder da vontade, do conhecidíssimo Smiles.
De resto, ele era espanhol, estrangeiro, e tinha por dever voltar rico. Um acidente qualquer tirou-lhe a vista, mas lhe ficou a obrigação de enriquecer. Era o que estava fazendo, quando a polícia foi perturbá-lo. Sinto muito; e são meus desejos que ele seja absolvido do delito que cometeu, volte à sua gloriosa Espanha, compre uma casa de campo, que tenha um pomar com oliveiras e a vinha generosa; e, se algum dia, no esmaecer do dia, a saudade lhe vier deste Rio de Janeiro, deste Brasil imenso e feio, agarre em uma moeda de cobre nacional e leia o ensinamento que o governo da República dá... aos outros, através dos seus vinténs: “A
economia é a base da prosperidade".
Bagatelas, 1911 O Cedro de Teresópolis O eminente poeta Alberto de Oliveira, segundo informações dos jornais, está empenhado em impedir que um proprietário ganancioso derrube um cedro venerável que lhe cresce nos terrenos.
A árvore é remanescente de antigas florestas que outrora existiram para aquelas bandas e viu crescer Teresópolis já adulto.
Não conheço essa espécie de árvore, mas deve ser bela porque Alberto de Oliveira se interessa pela sua conservação.
Homem de cidade, tendo viajado unicamente de cidade para cidade, nunca me foi dado ver essas essências florestais que todos que as contemplam, se enchem de admiração e emoção superior diante dessas maravilhas naturais.
O gesto de Alberto de Oliveira é sem dúvida louvável e não há homem de mediano gosto que não o aplauda do fundo d'alma.
Desejoso de conservar a relíquia florestal o grande poeta propôs comprar, ao dono, as terras onde ela crescia.
Tenho para mim que, à vista da quantia exigida por este, ela só poderá ser subscrita por gente rica, em cuja bolsa umas poucas de centenas de mil-réis não façam falta.
Aí é que me parece que o carro pega. Não é que tenha dúvidas sobre a generosidade da nossa gente rica; o meu ceticismo não vem daí.
A minha dúvida vem do seu mau gosto, do seu desinteresse pela natureza.
Excessivamente urbana, a nossa gente abastada não povoa os arredores do Rio de Janeiro de vivendas de campo com pomares, jardins, que os figurem graciosos como a linda paisagem da maioria deles está pedindo.
Os nossos arrabaldes e subúrbios são uma desolação. As casas de gente abastada têm, quando muito, um jardinzito liliputiano de polegada e meia; e as da gente pobre não têm coisa alguma.
Antigamente, pelas vistas que ainda se encontram, parece que não era assim.
Os ricos gostavam de possuir vastas chácaras, povoadas de laranjeiras, de mangueiras soberbas, de jaqueiras, dessa esquisita fruta-pão que não vejo mais e não sei há quantos anos não a como assada e untada de manteiga.
Não eram só essas árvores que a enchiam, mas muitas outras de frutas adorno, como as palmeiras soberbas, tudo isso envolvido por bambuais sombrios e sussurrantes à brisa.
Onde estão os jasmineiros das cercas? Onde estão aqueles extensos tapumes de maricás que se tornam de algodão que mais é neve, em pleno estio?
Os subúrbios e arredores do Rio guardam dessas belas coisas roceiras, destroços como recordações.
A rua Barão do Bom Retiro que vem do Engenho Novo à Vila Isabel dá a quem por ela passa uma amostra disso. São restos de bambuais, de jasmineiros que se enlaçavam pelas cercas em fora; são mangueiras isoladas, tristonhas, saudosas das companheiras de alameda que morreram ou foram mortas.
Não se diga que tudo isso desapareceu para dar lugar a habitações; não, não é verdade.
Há trechos e trechos grandes de terras abandonadas, onde os nossos olhos contemplam esses vestígios das velhas chácaras da gente importante de antanho que tinha esse amor fidalgo pela casa e que deve ser amor e religião para todos.
Que os pobres não possam exercer esse culto; que os médios não o possam também, vá lá! e compreende-se; mas os ricos? Qual o motivo?
Eles não amam a natureza; não têm, por lhes faltar irremediavelmente o gosto por ela, a iniciativa para escolher belos sítios, onde erguerem as suas custosas residências, e eles não faltam no Rio.
Atulham-se em dois ou três arrabaldes que já foram lindos, não pelas edificações, e não só pelas suas disposições naturais, mas também, e muito, pelas grandes chácaras que neles havia.
Botafogo está neste caso. Laranjeiras, Tijuca e Gávea também.
Aos famosos melhoramentos que têm sido levados a cabo nestes últimos anos, com raras exceções, tem presidido o maior contra-senso.
Os areais de Copacabana, Leme, Vidigal, etc., é que têm merecido os carinhos dos reformadores apressados.
Não se compreende que uma cidade se vá estender sobre terras combustas e estéreis e ainda por cima açoitadas pelos ventos e perseguidas as suas vias públicas pelas fúrias do mar alto.
A continuar assim, o Rio de Janeiro irá por Sepetiba, Angra dos Reis, Ubatuba, Santos, Paranaguá, sempre procurando os areais e os lugares onde o mar se possa desencadear em ressacas mais fortes.
É preciso não cessar em profligar tal erro; tanto mais que não há erro, o que há é especulação, jogo de terrenos, que. são comprados a baixo preço e os seus proprietários procuram valorizá-los num ápice de tempo, encaminhando para eles os melhoramentos municipais.
Todo o Rio de Janeiro paga impostos, para que tal absurdo seja posto em prática; e os panurgianos ricos vão docilmente satisfazendo a cupidez de matreiros sujeitos para quem a beleza, a saúde dos homens, os interesses de uma população nada valem.
É por isso que disse não me fiar muito que Alberto de Oliveira alcançasse realizar o seu desideratum.
Os ricos se afastam dos encantos e perspectivas dos sítios em que se possam casar o mais possível a arte e a natureza.
Perderam a individualidade da escolha; não associam à natureza as suas emoções nem.
esta lhes provoca meditações.
O estado dos arredores do Rio, abandonados, enfeitados com construções contraindicadas, cercados de terrenos baldios onde ainda crescem teimosamente algumas grandes árvores das casas de campo de antanho, faz desconfiar que os nababos de Teresópolis pouco se incomodam com o cedro que o turco quer derrubar, para fazer caixas e caixões que guardem quinquilharias e bugigangas.
Daí pode ser que não;. e eu desejaria muito que tal .acontecesse, pois deve ser um soberbo espetáculo contemplar a magnífica árvore, cantando e afirmando pelos tempos em fora, a vitória que obteve tão-somente pela força de sua beleza e majestade.
Bagatelas, 27-2-1920 O morcego O carnaval é a expressão da nossa alegria. O ruído, o barulho, o tantã espancam a tristeza que há nas nossas almas, atordoam-nos e nos enchem de prazer.
Todos nós vivemos para o carnaval. Criadas, patroas, doutores, soldados, todos pensamos o ano inteiro na folia carnavalesca.
O zabumba é que nos tira do espírito as graves preocupações da nossa árdua vida.
O pensamento do sol inclemente só é afastado pelo regougar de um qualquer “Iaiá me deixe".
Há para esse culto do carnaval sacerdotes abnegados.
O mais espontâneo, o mais desinteressado, o mais lídimo é certamente o “Morcego".
Durante o ano todo, Morcego é um grave oficial da Diretoria dos Correios, mas, ao aproximar-se o carnaval, Morcego sai de sua gravidade burocrática, atira a máscara fora e sai para a rua.
A fantasia é exuberante e vária, e manifesta-se na modinha, no vestuário, nas bengalas, nos sapatos e nos cintos.
E então ele esquece tudo: a Pátria, a família, a humanidade. Delicioso esquecimento!...
Esquece e vende, dá, prodigaliza alegria durante dias seguidos.
Nas festas da passagem do ano, o herói foi o Morcego.
Passou dois dias dizendo pilhérias aqui; pagando ali; cantando acolá, sempre inédito, sempre novo, sem que as suas dependências com o Estado se manifestassem de qualquer forma.
Ele então não era mais a disciplina, a correção, a lei, o regulamento; era o coribante inebriado pela alegria de viver. Evoé, Bacelar!
Essa nossa triste vida, em país tão triste, precisa desses videntes de satisfação e de prazer; e a irreverência da sua alegria, a energia e atividade que põem em realizá-la, fazem vibrar as massas panurgianas dos respeitadores dos preconceitos.
Morcego é uma figura e uma instituição que protesta contra o formalismo, a convenção e as atitudes graves.
Eu o bendisse, amei-o, lembrando-me das sentenças falsamente proféticas do sanguinário positivismo do Senhor Teixeira Mendes.
A vida não se acabará na caserna positivista enquanto os “morcegos" tiverem alegria...
Vida urbana, 2-1-1915 Problema vital Poucas vezes se há visto nos meios literários do Brasil, uma estréia como a do Senhor Monteiro Lobato. As águias provincianas se queixam de que o Rio de Janeiro não lhes dá importância e que os homens do Rio só se preocupam com coisas do Rio e da gente dele. É um engano. O Rio de Janeiro é muito fino para não dar importância a uns sabichões de aldeia que, por terem lido alguns autores, julgam que ele não os lê também; mas, quando um estudioso, um artista, um escritor, surja onde ele surgir no Brasil, aparece no Rio, sem esses espinhos de ouriço, todo o carioca independente e autônomo de espírito está disposto a aplaudi-lo e dar-lhe o apoio da sua admiração. Não se trata aqui da barulheira da imprensa, pois essa não o faz, senão para aqueles que lhe convém, tanto assim que sistematicamente esquece autores e nomes que, com os homens dela, todo o dia e hora lidam.
O Senhor Monteiro Lobato com o seu livro Urupês veio demonstrar isso. Não há quem não o tenha lido aqui e não há quem o não admire. Não foi preciso barulho de jornais para o seu livro ser lido. Há um contágio para as boas obras que se impõem por simpatia.
O que é de admirar em tal autor, e em tal obra, é que ambos tenham surgido em São Paulo, tão formalista, tão regrado que parecia não admitir nem um nem a outra.
Não digo que, aqui, não haja uma escola delambida de literatura, com uma retórica trapalhona de descrições de luares com palavras em “ll" e de tardes de trovoadas com vocábulos com “rr" dobrados: mas São Paulo, com as suas elegâncias ultra-européias, pareciame ter pela literatura, senão o critério da delambida que acabo de citar, mas um outro mais exagerado.
O sucesso de Monteiro Lobato, lá, retumbante e justo, fez-me mudar de opinião.
A sua roça, as suas paisagens não são coisas de moça prendada, de menina de boa família, de pintura de discípulo ou discípula da Academia Julien; é da grande arte dos nervosos, dos criadores, daqueles cujas emoções e pensamentos saltam logo do cérebro para o papel ou para a tela. Ele começa com o pincel, pensando em todas as regras do desenho e da pintura, mas bem depressa deixa uma e outra coisa, pega a espátula, os dedos e tudo o que ele viu e sentiu sai de um só jato, repentinamente, rapidamente.
O seu livro é uma maravilha nesse sentido, mas o é também em outro, quando nos mostra o pensador dos nossos problemas sociais, quando nos revela, ao pintar a desgraça das nossas gentes roceiras, a sua grande simpatia por elas. Ele não as embeleza, ele não as falsifica; fá-las tal e qual.
Eu quereria muito me alongar sobre este seu livro de contos, Urupês, mas não posso agora. Dar-me-ia ele motivo para discorrer sobre o que penso dos problemas que ele agita; mas, são tantos que me emaranho no meu próprio pensamento e tenho medo de fazer uma coisa confusa, a menos que não faça com pausa e tempo. Vale a pena esperar.
Entretanto, eu não poderia deixar de referir-me ao seu estranho livro, quando me vejo obrigado a dar notícia de um opúsculo seu que me enviou. Trata-se do "Problema Vital", uma coleção de artigos, publicados por ele, no Estado de S. Paulo, referentes à questão do saneamento do interior do Brasil.
Trabalhos de jovens médicos como os doutores Artur Neiva, Carlos Chagas, Belisário Pena e outros, vieram demonstrar que a população roceira do nosso país era vítima desde muito de várias moléstias que a alquebravam fisicamente. Todas elas têm uns nomes rebarbativos que me custam muito a escrever; mas Monteiro Lobato os sabe de cor e salteado e, como ele, hoje muita gente. Conhecias, as moléstias, pelos seus nomes vulgares; papeira, opilação, febres e o mais difícil que tinha na memória era - bócio. Isto, porém, não vem ao caso e não é o importante da questão.
Os identificadores de tais endemias julgam ser necessário um trabalho sistemático para o saneamento dessas regiões afastadas e não são só estas. Aqui, mesmo, nos arredores do Rio de Janeiro, o doutor Belisário Pena achou duzentos e cinqüenta mil habitantes atacados de maleitas, etc. Residi, durante a minha meninice e adolescência, na Ilha do Governador, onde meu pai era administrador das Colônias de Alienados. Pelo meu testemunho, julgo que o doutor Pena tem razão. Lá todos sofriam de febres e logo que fomos, para lá, creio que em 1890 ou 1891, não havia dia em que não houvesse, na nossa casa, um de cama, tremendo com a sezão e delirando de febre. A mim, foram precisas até injeções de quinino.
Por esse lado, julgo que ele e os seus auxiliares não falsificam o estado de saúde de nossas populações campestres. Têm toda a razão. O que não concordo com eles, é com o remédio que oferecem. Pelo que leio em seus trabalhos, pelo que a minha experiência pessoal pode me ensinar, me parece que há mais nisso uma questão de higiene domiciliar e de regime alimentar.
A nossa tradicional cabana de sapê e paredes de taipa é condenada e a alimentação dos roceiros é insuficiente, além do mau vestuário e do abandono do calçado.
A cabana de sapê tem origem muito profundamente no nosso tipo de propriedade agrícola - a fazenda. Nascida sob o influxo do regime do trabalho escravo, ela se vai eternizando, sem se modificar, nas suas linhas gerais. Mesmo em terras ultimamente desbravadas e servidas por estradas de ferro, como nessa zona da Noroeste, que Monteiro Lobato deve conhecer melhor do que eu, a fazenda é a forma com que surge a propriedade territorial no Brasil. Ela passa de pais a filhos; é vendida integralmente e quase nunca, ou nunca, se divide. O interesse de seu proprietário é tê-la intacta, para não desvalorizar as suas terras. Deve ter uma parte de matas virgens, outra parte de capoeira, outra de pastagens, tantos alqueires de pés de café, casa de moradia, de colonos, currais, etc.
Para isso, todos aqueles agregados ou coisa que valha, que são admitidos a habitar no latifúndio, têm uma posse precária das terras que usufruem; e, não sei se está isto nas leis, mas nos costumes está, não podem construir casa de telha, para não adquirirem nenhum direito de locação mais estável.
Onde está o remédio, Monteiro Lobato? Creio que procurar meios e modos de fazer desaparecer a “fazenda".
Construir casas de telhas, para os seus colonos e agregados. Será bom? Examinemos.
Os proprietários de latifúndios, tendo mais despesas com os seus miseráveis trabalhadores, esfolarão mais os seus clientes, tirando-lhes ainda mais dos seus míseros salários do que tiravam antigamente. Onde tal coisa irá repercutir? Na alimentação, no vestuário. Estamos, portanto, na mesma.
Em suma, para não me alongar. O problema, conquanto não se possa desprezar a parte médica propriamente dita, é de natureza econômica e social. Precisamos combater o regime capitalista na agricultura, dividir a propriedade agrícola, dar "a propriedade da terra ao que efetivamente cava a terra e planta e não ao doutor vagabundo e parasita,, que vive na “Casa Grande" ou no Rio ou em São Paulo. Já é tempo de fazermos isto e é isto que eu chamaria o “Problema Vital".
Bagatelas, 22-2-1918 Ontem e hoje Como todo o Rio de Janeiro sabe, o seu centro social foi deslocado da rua do Ouvidor para a avenida e, nesta, ele fica exatamente no ponto dos bondes do Jardim Botânico.
Lá se reúne tudo o que há de mais curioso na cidade. São as damas elegantes, os moços bonitos, os namoradores, os amantes, os badauds, os camelots e os sem-esperança.
Acrescem para dar animação ao local, as cervejarias que há por lá, e um enorme hotel que diz comportar não sei quantos milheiros de hóspedes.
Nele moram vários parlamentares, alguns conhecidos e muitos desconhecidos. Entre aqueles está um famoso pela virulência dos seus ataques, pela sua barba nazarena, pelo seu pince-nez e, agora, pelo luxuoso automóvel, um dos mais chics da cidade.
Há cerca de quatro meses, um observador que lá se postasse, veria com espanto o ajuntamento que causava a entrada e a saída desse parlamentar.
De toda a parte, corria gente a falar com ele, a abraçá-lo, a fazer-lhe festas. Eram homens de todas as condições, de todas as roupas, de todas as raças. Vinham os encartolados, os abrilhantados, e também os pobres, os mal vestidos, os necessitados de emprego.
Certa vez a aglomeração de povo foi tal que o guarda civil de ronda compareceu, mas logo afastou-se dizendo:
- É o nosso homem.
Bem; isto é história antiga. Vejamos agora a moderna. Atualmente, o mesmo observador que lá parar, a fim de guardar fisionomias belas ou feias, alegres ou tristes e registrar gestos e atitudes, fica surpreendido com a estranha diferença que há com aspecto da chegada do mesmo deputado. Chega o seu automóvel, um automóvel de muitos contos de réis, iluminado eletricamente, motorista de fardeta, todo o veículo reluzente e orgulhoso. O homem salta. Pára um pouco, olha desconfiado para um lado e para outro, levanta a cabeça para equilibrar o pince-nez no nariz e segue para a escusa entrada do hotel.
Ninguém lhe fala, ninguém lhe pede nada, ninguém o abraça - por quê?
Porque não mais aquele ajuntamento, aquele fervedouro de gente de há quatro meses passados?
Se ele sai e põe-se no passeio à espera do seu rico automóvel, fica isolado, sem um admirador ao lado, sem um correligionário, sem um assecla sequer. Por quê? Não sabemos, mas talvez o guarda civil pudesse dizer:
- Ele não é mais o nosso homem.
Vida urbana, 26-6-1915 Os enterros de Inhaúma Certamente há de ser impressão particular minha não encontrar no cemitério municipal de Inhaúma aquele ar de recolhimento, de resignada tristeza, de imponderável poesia do Além, que encontro nos outros. Acho-o feio, sem compunção com um ar momo de repartição pública; mas se o cemitério me parece assim, e não me interessa, os enterros que lá vão ter, todos eles, aguçam sempre a minha atenção quando os vejo passar, pobres ou não, a pé ou em cocheautomóvel.
A pobreza da maioria dos habitantes dos subúrbios ainda mantém neles esse costume rural de levar a pé, carregados a braços, os mortos queridos.
É um sacrifício que redunda num penhor de amizade em uma homenagem das mais sinceras e piedosas que um vivo pode prestar a um morto.
Vejo-os passar e calculo que os condutores daquele viajante para tão longínquas paragens, já andaram alguns quilômetros e vão carregar o amigo morto, ainda durante cerca de uma légua. Em geral assisto a passagem desses cortejos fúnebres na rua José Bonifácio canto da Estrada Real. Pela manhã gosto de ler os jornais num botequim que há por lá. Vejo os órgãos, quando as manhãs estão límpidas, tintos com a sua tinta especial de um profundo azulferrete e vejo uma velha casa de fazenda que se ergue bem próximo, no alto de uma meia laranja, passam carros de bois, tropas de mulas com sacas de carvão- nas cangalhas, carros de bananas, pequenas manadas de bois, cujo campeiro cavalga atrás sempre com o pé direito embaralhado em panos.
Em certos instantes, suspendo mais demoradamente a leitura do jornal, e espreguiço o olhar por sobre o macio tapete verde do capinzal intérmino que se estende na minha frente.
Sonhos de vida roceira me vêm; suposições do que aquilo havia sido, ponho-me a fazer.
Índios, canaviais, escravos, troncos, reis, rainhas, imperadores - tudo isso me acode à vista daquelas coisas mudas que em nada falam do passado.
De repente, tilinta um elétrico, buzina um- automóvel chega um caminhão carregado de caixas de garrafas de cerveja; então, todo o bucolismo do local se desfaz, a emoção das priscas eras em que os coches de Dom João VI transitavam por ali, esvai-se e ponho-me a ouvir o retinir de ferro malhado, uma fábrica que se constrói bem perto.
Vem porém o enterro de uma criança; e volto a sonhar.
São moças que carregam o caixão minúsculo; mas assim mesmo, pesa. Percebo-o bem, no esforço que fazem.
Vestem-se de branco e calçam sapatos de salto alto. Sopesando o esquife, pisando o mau calçamento da rua, é com dificuldade que cumprem a sua piedosa missão. E eu me lembro que ainda têm de andar tanto! Contudo, elas vão ficar livres de um suplício; é o do calçamento da rua do Senador José Bonifácio. É que vão entrar na Estrada Real; e, naquele trecho, a prefeitura só tem feito amontoar pedregulhos, mas tem deixado a vetusta via pública no estado de nudez virginal em que nasceu. Isto há anos que se verifica.
Logo que as portadoras do defunto pisam o barro unido do velho trilho, adivinho que elas sentem um grande alívio dos pés à cabeça. As fisionomias denunciam. Atrás, seguem outras moças que as auxiliarão bem depressa, na sua tocante missão de levar um mortal à sua última morada neste mundo; e, logo após, graves cavalheiros de preto, com o chapéu na mão, carregando palmas de flores naturais, algumas com aspecto silvestre, e baratas e humildes coroas artificiais fecham o cortejo.
Este calçamento da rua Senador José Bonifácio, que deve datar de uns cinqüenta anos é feito de pedacinhos de seixos mal ajustados e está cheio de depressões e elevações imprevistas. É mau para os defuntos; e até já fez um ressuscitar.
Conto-lhes. O enterro era feito em coche puxado por muares. Vinha das bandas do Engenho Novo, e tudo corria bem. O carro mortuário ia na frente, ao trote igual das bestas.
Acompanhavam-no seis ou oito caleças, ou meias caleças, com os amigos do defunto. Na altura da estação de Todos os Santos, o cortejo deixa a rua Arquias Cordeiro e toma perpendicularmente, à direita, a de José Bonifácio. Coche e caleças põem-se logo a jogar como navios em alto-mar tempestuoso. Tudo dança dentro deles. O cocheiro do carro fúnebre mal se equilibra na boléia alta. Oscila da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, que nem um mastro de galera debaixo de tempestade braba. Subitamente, antes de chegar aos "Dois Irmãos", o coche cai num caldeirão, pende violentamente para um lado; o cocheiro é cuspido ao solo, as correias que prendem o caixão ao carro, partem-se, escorregando a jeito e vindo espatifar-se de encontro às pedras; e - oh! terrível surpresa! do interior do esquife, surge de pé -
lépido, vivo, vivinho, o defunto que ia sendo levado ao cemitério a enterrar. Quando ele atinou e coordenou os fatos não pôde conter a sua indignação e soltou uma maldição: "Desgraçada municipalidade de minha terra que deixas este calçamento em tão mal estado! Eu que ia afinal descansar, devido ao teu relaxamento volto ao mundo, para ouvir as queixas da minha mulher por causa da carestia da vida, de que não tenho culpa alguma; e sofrer as impertinências do meu chefe Selrão, por causa das suas hemorróidas, pelas quais não me cabe responsabilidade qualquer! Ah! Prefeitura de uma figa, se tivesses uma só cabeça havias de ver as forças das minhas munhecas! Eu te esganava, maldita, que me trazes de novo à vida!"
A este fato, eu não assisti, nem ao menos morava naquelas paragens, quando aconteceu;
mas pessoas dignas de toda a confiança me garantem a autenticidade dele. Porém, um outro muito interessante aconteceu com um enterro quando eu já morava por elas, e dele tive notícias frescas, logo após o sucedido, por pessoas que nele tomaram parte.
Tinha morrido o Felisberto Catarino, operário, lustrador e empalhador numa oficina de móveis de Cascadura. Ele morava no Engenho de Dentro, em casa própria, com razoável quintal, onde havia, além de alguns pés de laranjeiras, uma umbrosa mangueira, debaixo da qual, aos domingos, reunia colegas e amigos para bebericar e jogar a bisca.
Catarino gozava de muita estima, tanto na oficina como na vizinhança.
Como era de esperar, o seu enterro foi muito concorrido e feito a pé, com um denso acompanhamento. De onde ele morava, até ao cemitério de Inhaúma, era um bom pedaço; mas os seus amigos a nada quiseram atender: Resolveram levá-lo mesmo a pé. Lá fora, e no trajeto, por tudo que era botequim e taverna por que passavam, bebiam o seu trago. Quando o caminho se tornou mais deserto até os condutores do esquife deixavam-no na borda da estrada e iam à taverna "desalterar". Numa das últimas etapas do itinerário, os que carregavam, resolveram de mútuo acordo deixar o pesado fardo para os outros e encaminharam-se sub-repticiamente para a porta do cemitério. Tanto estes como os demais - é de toda a conveniência dizer - já estavam bem transtornados pelo álcool. Outro grupo concordou fazer o mesmo que tinham feito os carregadores dos despojos mortais de Catarino; um outro, idem; e, assim, todo o acompanhamento dividido em grupos, tomou o rumo do portão do campo-santo, deixando o caixão fúnebre com o cadáver de Catarino dentro abandonado à margem da estrada.
Na porta do cemitério, cada um esperava ver chegar o esquife pelas mãos de outros que não as deles; mas nada de chegar. Um, mais audaz, após algum tempo de espera, dirigindo-se a todos os companheiros, disse bem alto:
- Querem ver que perdemos o defunto?
- Como? perguntaram os outros, a uma voz.
- Ele não aprece e estamos todos aqui, refletiu o da iniciativa.
- É verdade, fez outro.
Alguém então aventou:
- Vamos procurá-lo. Não seria melhor?
E todos voltaram sobre os seus passos, para procurar aquela agulha em palheiro...
Tristes enterros de Inhaúma! Não fossem essas tintas pinturescas e pitorescas de que vos revestis de quando em quando de quanta reflexão acabrunhadora não havíeis de sugerir aos que vos vêem passar; e como não convenceríeis também a eles que a maior dor desta vida não é morrer...
Feiras e mafuás, 26-8-1922 Os percalços do budismo Há tempos, por uma bela tarde de verão, resolvi dar um passeio pela chamada avenida Beira-mar que, como todas as coisas nossas, é a mais bela do mundo, assim como o Corcovado é o mais alto monte da Terra.
Queria ver o mar mais livre, sem aquelas peias de cais que lhe causam de quando em quando, revoltas demolidoras de que todos se lembram; mas não tinha dinheiro para ir à Angra dos Reis. Bem.
Pouco acima do Passeio Público, encontrei-me com o meu antigo colega Epimênides da Rocha, a quem de lá muito não via.
- Onde tens andado?
- No hospício.
- Como? Não tens ar de louco absolutamente -como foi então?
- A polícia. Não sabes que a nossa polícia é paternal e ortodoxa em matéria de religião.
- Que tem uma coisa com a outra?
- Eu te conto. Logo depois de me aposentar, eu me retirei com os meus livros e papéis, para um subúrbio longínquo. Aluguei uma casa, em cujo quintal tinha uma horta e galinheiro tratados por mim e pelo meu fiel Manuel Joaquim, um velho português que não ficou rico. Nos lazeres das minhas leituras, trabalhava nos canteiros e curava a bouba dos meus pintos. Fui ficando afeiçoado na redondeza e conversava com todos que se chegavam a mim. Aos poucos, fui pregando, da forma que lhes fosse mais acessível, aos meus vizinhos as minhas teorias mais ou menos niilistas e budistas.
"O mundo não existe, é uma grande ilusão. Para matar em nós a dor, é preciso varrer da nossa vontade todo e qualquer desejo e ambição que são fontes de sofrimento. É necessário eliminar em nós, sobretudo, o amor, onde decorre toda a nossa angústia. Citava em português aquelas palavras de Bossuet, e as explicava terra à terra: "Passez l'amour, vous faites naítre toutes les passions; ôtez l'amour, vous les supprimez toutes".
"Aos poucos, as minhas idéias, pregadas com os exemplos e comparações mais corriqueiras, se espalharam e eu me vi obrigado a fazer conferências. Um padre que andava por lá, a catar níqueis, para construir a milionésima igreja do Rio de Janeiro, acusou-me de feitiçaria, candomblâncias, macumbas e outras coisas feias. Fui convidado a comparecer à delegacia e o delegado, com grandes berros e gestos furiosos, intimou-me a acabar com as minhas prédicas. Disse-lhe que não lhe podia obedecer, pois, segundo as leis, eu tinha a mais ampla liberdade de pensamento literário, político, artístico, religioso, etc. Mais furioso ficou e eu mais indignado fiquei. Mas vim para a casa e continuei.
"Um belo dia, veio um soldado buscar-me e levou-me para a chefatura de policia, onde me levaram a um doutor.
"Percebi que me acusavam (?) de maluco.
"Disse-lhe que não era louco e, mesmo que o fosse, segundo a legislação em vigor, não sendo eu indigente, competia a meus pais, pois os tinha, internar-me em hospital adequado.
Não quis saber de leis, e outras malandragens e remeteu-me para a Praia da Saudade, como sofrendo de mania religiosa. O que me aconteceu aí, onde, em geral, me dei bem, contarei num próximo livro. Contudo, não posso deixar de te referir agora o risinho de mofa que um doutor fez, quando lhe disse que tinha alguns livros publicados e cursara uma escola superior. No Brasil, meu caro, doutor ou nada.
"Ia-me acostumando, tanto mais que o meu médico era o doutor Gotuzzo, excelente pessoa, quando, certo dia, ele me chamou:
"- Epimênides!
"- Que é, doutor.
"- Você vai ter alta.
"- Como?
"- Não quer?
"- A bem dizer, não. Gosto dos homens, das suas lutas, das suas disputas, mas não gosto de lhes entender o pensamento.
"Os gestos, os ademanes, tudo que lhes é exterior aprecio; mas, a alma não. Não entendo a que móveis os meus companheiros de manicômio obedecem, quando fazem gatimonhas e deliram; vivia, portanto, aqui num paraíso, tanto mais que não fazia nada, porque a finalidade da minha doutrina religiosa é realizar na vida o maximum de preguiça. Não direi todos, mas um dos males da nossa época é essa pregação do trabalho intenso, que tira o ócio do espírito e nos afasta a todo o momento da nossa alma imortal e não nos deixa ouvi-la a todo o momento.
"- A isto, disse-me o doutor:
"- Não posso, apesar do que você diz, conservar você aqui. Você tem que se ir mesmo;
mas, estou bem certo de que a humanidade lá de fora, em grande parte, não deixa de ter algum parentesco com a fração dela que está aqui dentro.
"- Tem, meu caro doutor; mas, é uma fração da fração a que o senhor alude.
"- Qual é?
"- São os idiotas.
"No dia seguinte, continuou ele, estava na rua e, graças aos cuidados do Manuel Joaquim, encontrei meus livros intactos."
Então eu perguntei ao camarada Epimênides:
- Que vais fazer agora?
- Escrever uma obra vultuosa e volumosa.
- Como se intitula?
- Todos devem obedecer à Lei, menos o Governo.
Desde esse dia, não mais o encontrei; mas soube por alguém, que ele estava tratando de arranjar um mandato de manutenção, para erigir um convento budista da mais pura doutrina, a qual seria ensinada por um bonzo siamês que viera como taifeiro de veleiro de Rangum e ele conhecera morrendo de fome no cais do porto.
Marginalia, s.d.
Lima Barreto País rico Não há dúvida alguma que o Brasil é um país muito rico. Nós que nele vivemos; não nos apercebemos bem disso, e até, ao contrário, o supomos muito pobre, pois a toda hora e a todo instante, estamos vendo o governo lamentar-se que não faz isto ou não faz aquilo por falta de verba.
Nas ruas da cidade, nas mais centrais até, andam pequenos vadios, a cursar a perigosa universidade da calariça das sarjetas, aos quais o governo não dá destino, o os mete num asilo, num colégio profissional qualquer, porque não tem verba, não tem dinheiro. É o Brasil rico...
Surgem epidemias pasmosas, a matar e a enfermar milhares de pessoas, que vêm mostrar a falta de hospitais na cidade, a má localização dos existentes. Pede-se à construção de outros bem situados; e o governo responde que não pode fazer porque não tem verba, não tem dinheiro. E o Brasil é um país rico.
Anualmente cerca de duas mil mocinhas procuram uma escola anormal ou anormalizada, para aprender disciplinas úteis. Todos observam o caso e perguntam:
- Se há tantas moças que desejam estudar, por que o governo não aumenta o número de escolas a elas destinadas?
O governo responde:
- Não aumento porque não tenho verba, não tenho dinheiro.
E o Brasil é um país rico, muito rico...
As notícias que chegam das nossas guarnições fronteiriças, são desoladoras. Não há quartéis; os regimentos de cavalaria não têm cavalos, etc., etc.
- Mas que faz o governo, raciocina Brás Bocó, que não constrói quartéis e não compra cavalhadas?
O doutor Xisto Beldroegas, funcionário respeitável do governo acode logo:
- - Não há verba; o governo não tem dinheiro.
- - E o Brasil é um país rico; e tão rico é ele, que apesar de não cuidar dessas coisas que vim enumerando, vai dar trezentos contos para alguns latagões irem ao estrangeiro divertir-se com os jogos de bola como se fossem crianças de calças curtas, a brincar nos recreios dos colégios.
O Brasil é um país rico...
Marginália, 8-5-1920 Lima Barreto Pólvora e cocaína Já houve quem dissesse por aí que o Rio de Janeiro é a cidade das explosões.
Na verdade, não há semana em que os jornais não registrem uma aqui e ali, na parte rural.
A idéia que se faz do Rio é de que é ele um vasto paiol, e vivemos sempre ameaçados de ir pelos ares, como se estivéssemos a bordo de um navio de guerra, ou habitando uma fortaleza cheia de explosivos terríveis.
Certamente. que essa pólvora terá toda ela emprego útil; mas, se ela é indispensável para certos fins industriais, convinha que se averiguassem bem a causas das explosões, se são acidentais ou propositais, a fim de que fossem removidas na medida do possível..
Isto, porém, é que não se tem dado e creio que até hoje não têm as autoridades chegado a resultados positivos.
Entretanto, é sabido que certas pólvoras, submetidas a dadas condições, explodem espontaneamente e tem sido essa a explicação para uma série de acidentes bastante dolorosos, a começar pelo do “Maine”, na baía de Havana, sem esquecer também o do “Aquidabã”.
Noticiam os jornais que o governo vende, quando avariada, grande quantidade dessas pólvoras.
Tudo está a indicar que o primeiro cuidado do governo devia ser não entregar a particulares tão perigosas pólvoras, que explodem assim sem mais nem menos, pondo pacificas vidas em constante perigo.
Creio que o governo não é assim um negociante ganancioso que vende gêneros que possam trazer a destruição de vidas preciosas; e creio que não é, porquanto anda sempre zangado com os farmacêuticos que vendem cocaína aos suicidas.
Há sempre no Estado curiosas contradições.
Vida urbana, 5-1-1915 Quantos?
Os nossos financeiros do congresso, ou fora dele, são deveras interessantes. Tateiam, hesitam, andam às apalpadelas, nos casos que mais precisam de decisão.
Resolveram eles, para salvar a Pátria, que anda a níqueis, que os empregados públicos fossem tributados de maneira mais ou menos forte.
Nada mais justo. Como já tive ocasião de dizer, é razoável que a Pátria "pronta", "morda"
os seus filhos "prontos"; e eu, que estou em causa, não protesto absolutamente.
Estou cordialmente disposto a contribuir com os meus "caraminguaus" para a salvação do país mais rico do mundo.
Agora, uma coisa, caros senhores legisladores: quanto tenho de pagar?
Uma hora dizem: dez por cento. Faço os meus cálculos e digo de mim para mim: suporto.
E voto por que nos cortem certas despesas suntuárias, como o governo anda a cortar a dos automóveis.
Vem, porém, um outro "salvador" e diz: você, "Seu" Barreto, vai pagar unicamente cinco por cento.
Tomo a respiração, vou para casa e abençôo o congresso: homens sérios!
Viram bem que dez por cento era muita coisa!
Não confesso a minha alegria à mulher e aos filhos, porque os não tenho, mas canto a satisfação pelas ruas, embora os transeuntes me tomem por louco.
Ainda bem não dou largas à minha alegria, quando chega um outro e propõe: você deve ser descontado em doze por cento.
Ora bolas! Isto também é demais! Então eu sou o holandês que paga o mal que não fez?
Não é possível que os senhores legisladores pensem que posso assim ser esfolado, sem mais nem menos; e os meus vencimentos estejam assim dispostos a serem diminuídos, conforme a fantasia de cada um.
Entro na subscrição para manter o Ministério da Agricultura, mas de conformidade com as minhas posses. Notem bem.
Se ele precisa de tanto dinheiro, nada mais razoável do que apelar para o Visconde de Morais, o Gaffrée ou mesmo para o Rocha Alazão, que, em tais coisas de "facadas" é mestre consumado, respeitado e admirado por todos, porquanto - confessemos aqui entre amigos -
quem não deu a sua "facadinha"?
Vida urbana, 18-12-1914 Quase doutor A nossa instrução pública cada vez que é reformada, reserva para o observador surpresas admiráveis. Não há oito dias, fui apresentado a um moço, aí dos seus vinte e poucos anos, bem posto em roupas, anéis, gravatas, bengalas, etc. O meu amigo Seráfico Falcote, estudante, disse-me o amigo comum que nos pôs em relações mútuas.
O Senhor Falcote logo nos convidou a tomar qualquer coisa e fomos os três a uma confeitaria. Ao sentar-se, assim falou o anfitrião:
- Caxero traz aí quarqué cosa de bebê e comê.
Pensei de mim para mim: esse moço foi criado na roça, por isso adquiriu esse modo feio de falar. Vieram as bebidas e ele disse ao nosso amigo:
- Não sabe Cunugunde: o véio tá i.
O nosso amigo comum respondeu:
- Deves então andar bem de dinheiros.
- Quá ele tá i nós não arranja nada. Quando escrevo é aquela certeza. De boca, não se cava... O véio óia, óia e dá o fora.
Continuamos a beber e a comer alguns camarões e empadas. A conversa veio a cair sobre a guerra européia. O estudante era alemão dos quatro costados.
- Alamão, disse ele, vai vencer por uma força. Tão aqui, tão em Londres.
-Qual!
- Pois óie: eles toma Paris, atravessa o Sena e é um dia inguelês.
Fiquei surpreendido com tão furioso tipo de estudante. Ele olhou a garrafa de vermouth e observou:
- Francês tem muita parte..-. Escreve de um jeito e fala de outro.
- Como?
- Óie aqui: não está vermouth, como é que se diz "vermute"? Pra que tanta parte?
Continuei estuporado e o meu amigo, ou antes, o nosso amigo parecia não ter qualquer surpresa com tão famigerado estudante.
- Sabe, disse este, quase fui com o dotô Lauro.
- Por que não foi? perguntei.
- Não posso andá por terra.
- Tem medo?
- Não. Mas óie que ele vai por Mato Grosso e não gosto de andá pelo mato.
Esse estudante era a coisa mais preciosa que tinha encontrado na minha vida. Como era ilustrado! Como falava bem! Que magnífico deputado não iria dar? Um figurão para o partido da Rapadura.
O nosso amigo indagou dele em certo momento:
- Quando te formas?
- No ano que vem.
Caí das nuvens. Este homem já tinha passado tantos exames e falava daquela forma e tinha tão firmes conhecimentos!
O nosso amigo indagou ainda:
- Tens tido boas notas?
- Tudo. Espero tirá a medáia.
Careta, 8-5-1915 Queixa de defunto Antônio da Conceição, natural desta cidade, residente que foi em vida, na Boca do Mato, no Méier, onde acaba de morrer, por meios que não posso tomar público, mandou-me a carta abaixo que é endereçada ao prefeito. Ei-la:
"Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Doutor Prefeito do Distrito Federal. Sou um pobre homem que em vida nunca deu trabalho às autoridades públicas nem a elas fez reclamação alguma. Nunca exerci ou pretendi exercer isso que sé chama os direitos sagrados de cidadão.
Nasci, vivi e morri modestamente, julgando sempre que o meu único dever era ser lustrador de móveis e admitir que os outros os tivessem para eu lustrar e eu não.
"Não fui republicano, não fui florianista, não fui custodista, não fui hermista, não me meti em greves, nem coisa alguma de reivindicações e revoltas, mas morri na santa paz do Senhor quase sem pecados e sem agonia.
"Toda a minha vida de privações e necessidades era guiada pela esperança de gozar depois de minha morte no sossego, uma calma de vida que não sou capaz de descrever, mas que pressenti pelo pensamento, graças à doutrinação das seções católicas dos jornais.
"Nunca fui ao espiritismo, nunca fui aos 'bíblias', nem a feiticeiros, e apesar de ter tido um filho que penou dez anos nas mãos dos médicos, nunca procurei macumbeiros nem médiuns.
"Vivi uma vida santa e obedecendo às prédicas do Padre André do Santuário do Sagrado Coração de Maria, em Todos os Santos, conquanto as não entendesse bem por serem pronunciadas com toda a eloqüência em galego ou vasconço.
"Segui-as, porém, com todo o rigor e humildade, e esperava gozar da mais dúlcida paz depois de minha morte. Morri afinal um dia destes. Não descrevo as cerimônias porque são muito conhecidas e os meus parentes e amigos deixaram-me sinceramente porque eu não deixava dinheiro algum. É bom meu caro Senhor Doutor Prefeito, viver na pobreza, mas muito melhor é morrer nela. Não se levam para a cova maldições dos parentes e amigos deserdados;
só carregamos lamentações e bênçãos daqueles a quem não pagamos mais a casa.
"Foi o que aconteceu comigo e estava certo de ir direitinho para o Céu, quando, por culpa do Senhor e da Repartição que o Senhor dirige, tive que ir para o inferno penar alguns anos ainda.
"Embora a pena seja leve, eu me amolei, por não ter contribuído para ela de forma alguma. A culpa é da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro que não cumpre os seus deveres, calçando convenientemente as ruas. Vamos ver por quê. Tendo sido enterrado no cemitério de Inhaúma e vindo o meu enterro do Méier, o coche e o acompanhamento tiveram que atravessar em toda a extensão a rua José Bonifácio, em Todos os Santos.
"Esta rua foi calçada há perto de cinqüenta anos a macadame e nunca mais foi o seu calçamento substituído. Há caldeirões de todas as profundidades e largura, por ela afora. Dessa forma, um pobre defunto que vai dentro do caixão em cima de um coche que por ela rola, sofre o diabo. De uma feita um até, após um trambolhão do carro mortuário, saltou do esquife, vivinho da silva, tendo ressuscitado com o susto.
"Comigo não aconteceu isso, mas o balanço violento do coche, machucou-me muito e cheguei diante de São Pedro cheio de arranhaduras pelo corpo. O bom do velho santo interpelou-me logo:
"- Que diabo é isto? Você está todo machucado! Tinham-me dito que você era bem comportado - como é então que você arranjou isso? Brigou depois de morto?
"Expliquei-lhe, mas não me quis atender e mandou que me fosse purificar um pouco no inferno.
"Está aí como, meu caro Senhor Doutor Prefeito, ainda estou penando por sua culpa, embora tenha tido vida a mais santa possível. Sou, etc., etc."
Posso garantir a fidelidade da cópia e aguardar com paciência as providências da municipalidade.
Careta, 20-3-1920 Queixa de defunto Antônio da Conceição, natural desta cidade, residente que foi em vida, na Boca do Mato, no Méier, onde acaba de morrer, por meios que não posso tomar público, mandou-me a carta abaixo que é endereçada ao prefeito. Ei-la:
"Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Doutor Prefeito do Distrito Federal. Sou um pobre homem que em vida nunca deu trabalho às autoridades públicas nem a elas fez reclamação alguma. Nunca exerci ou pretendi exercer isso que sé chama os direitos sagrados de cidadão.
Nasci, vivi e morri modestamente, julgando sempre que o meu único dever era ser lustrador de móveis e admitir que os outros os tivessem para eu lustrar e eu não.
"Não fui republicano, não fui florianista, não fui custodista, não fui hermista, não me meti em greves, nem coisa alguma de reivindicações e revoltas, mas morri na santa paz do Senhor quase sem pecados e sem agonia.
"Toda a minha vida de privações e necessidades era guiada pela esperança de gozar depois de minha morte no sossego, uma calma de vida que não sou capaz de descrever, mas que pressenti pelo pensamento, graças à doutrinação das seções católicas dos jornais.
"Nunca fui ao espiritismo, nunca fui aos 'bíblias', nem a feiticeiros, e apesar de ter tido um filho que penou dez anos nas mãos dos médicos, nunca procurei macumbeiros nem médiuns.
"Vivi uma vida santa e obedecendo às prédicas do Padre André do Santuário do Sagrado Coração de Maria, em Todos os Santos, conquanto as não entendesse bem por serem pronunciadas com toda a eloqüência em galego ou vasconço.
"Segui-as, porém, com todo o rigor e humildade, e esperava gozar da mais dúlcida paz depois de minha morte. Morri afinal um dia destes. Não descrevo as cerimônias porque são muito conhecidas e os meus parentes e amigos deixaram-me sinceramente porque eu não deixava dinheiro algum. É bom meu caro Senhor Doutor Prefeito, viver na pobreza, mas muito melhor é morrer nela. Não se levam para a cova maldições dos parentes e amigos deserdados;
só carregamos lamentações e bênçãos daqueles a quem não pagamos mais a casa.
"Foi o que aconteceu comigo e estava certo de ir direitinho para o Céu, quando, por culpa do Senhor e da Repartição que o Senhor dirige, tive que ir para o inferno penar alguns anos ainda.
"Embora a pena seja leve, eu me amolei, por não ter contribuído para ela de forma alguma. A culpa é da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro que não cumpre os seus deveres, calçando convenientemente as ruas. Vamos ver por quê. Tendo sido enterrado no cemitério de Inhaúma e vindo o meu enterro do Méier, o coche e o acompanhamento tiveram que atravessar em toda a extensão a rua José Bonifácio, em Todos os Santos.
"Esta rua foi calçada há perto de cinqüenta anos a macadame e nunca mais foi o seu calçamento substituído. Há caldeirões de todas as profundidades e largura, por ela afora. Dessa forma, um pobre defunto que vai dentro do caixão em cima de um coche que por ela rola, sofre o diabo. De uma feita um até, após um trambolhão do carro mortuário, saltou do esquife, vivinho da silva, tendo ressuscitado com o susto.
"Comigo não aconteceu isso, mas o balanço violento do coche, machucou-me muito e cheguei diante de São Pedro cheio de arranhaduras pelo corpo. O bom do velho santo interpelou-me logo:
"- Que diabo é isto? Você está todo machucado! Tinham-me dito que você era bem comportado - como é então que você arranjou isso? Brigou depois de morto?
"Expliquei-lhe, mas não me quis atender e mandou que me fosse purificar um pouco no inferno.
"Está aí como, meu caro Senhor Doutor Prefeito, ainda estou penando por sua culpa, embora tenha tido vida a mais santa possível. Sou, etc., etc."
Posso garantir a fidelidade da cópia e aguardar com paciência as providências da municipalidade.
Careta, 20-3-1920 Quereis encontrar marido? -
Aprendei!...
A livraria Schettino, desta cidade, há tempos, editou um pequeno opúsculo de doze páginas, tipo graúdo, entrelinhado, com este soberbo título: Quereis encontrar marido? -
Aprendei!...
É autor do livro uma senhora, Dona Diana D'Alteno, que, a seguir a regra geral, nunca encontrou o seu. Digo isto porque, na quase totalidade, todas as pessoas que se propõem a fornecer tal coisa ou outra aos seus semelhantes, não a possuem. Haja vista os feiticeiros, negromantes, cartomantes, adivinhos, hierofantes, que estão sempre prontos a dar fortuna aos outros, mas que, entretanto, não têm níquel, pois precisam de espórtulas e gratificações para os seus generosos serviços.
Dona Diana D'Alteno começa o seu interessante opúsculo assim, deste modo, que transcrevo tal e qual:
"Gentis e amáveis moças solteiras. É a vós que dedico estes meus escritos. O motivo que me induz a traçar estas linhas é um dos mais vitais, e quiçá dos mais graves."
Depois dessa invocação às suas caras leitoras, a autora entra de pronto no "argumento".
Sabem qual é este argumento? Pois fale ela. Eis as suas palavras:
"Permiti, pois, que vos fale disso como coisa nova.
"Se trata do terrível dépeuplement, a diminuição progressiva de nascimentos, que poderá um dia ser causa de tremendos conflitos entre as nações, aproveitando-se umas sobre as outras de maior a menor número de combatentes."
Vejam os senhores só como esta senhora está adiantada em matéria de previsão histórica e como a sua sociologia é muito obstétrica e ginecológica.
O despovoamento pode ser um dia causa de tremendos conflitos, fenômeno terrível que ela qualifica mais adiante: "espada de Dâmocles suspensa sobre a cabeça de boa parte do gênero humano".
A Senhora D'Alteno, ao acabar de fazer tão curiosa descoberta, não fica satisfeita. Parece que o seu gênio é como a atividade catequizadora de São Francisco Xavier; quer ir mais longe, mais longe. "Amplius!"
Então toma a palavra pela segunda vez e descobre a causa. Mais uma vez passo para aqui as palavras da ilustre socióloga:
"Pela segunda vez, peço permissão de tomar a palavra e explicar sem ambages qual seja esse motivo: é a diminuição dos matrimônios. É o caso de dizer: "a pequenas causas, grandes efeitos" e na verdade, os matrimônios se tornam cada vez mais raros e mais difíceis."
Peço licença para observar à ilustre senhora coisas simples. Antes, tenho a dizer que nada entendo dessas coisas sociais, mesmo em se tratando de casamentos. Não é atividade da minha seara intelectuaL mas já foi dito que cada qual tem o direito de ter uma opinião e de dizêla. Eu julgo que o casamento nada tem com o despovoamento. Pode haver multiplicação da humanidade sem ele, como pode haver com ele. O "crescei e multiplicai-vos" não subentende casamento algum. Há muitas espécies animais que obedecem ao preceito bíblico e prescindem de semelhante cerimônia. Por acaso entre os nossos animais domésticos que crescem e se multiplicam, apesar das pestes, das facas das cozinheiras, do choupo, etc.; há pastores e sacerdotes encarregados de realizar casamentos? Não.
Estou bem certo que a autora não se zangará comigo, apesar do seu nome que, entretanto, não é também propício aos destinos do seu singular folheto. Mas... Afirma Dona Diana que "o homem (o grifo é dela) tem medo do matrimônio. Um sacro terror se apoderou dele a tal palavra".
Ainda uma vez peço licença à ilustre autora para discordar. O "homem" não tem medo do matrimônio; o "homem" o quer sempre. A culpa é da mulher que escolhe muito. Se ela casasse com o primeiro que encontrasse, a tal história não se daria. Eu, por exemplo, atiro ao terreiro um grão de milho; se não houver um galináceo que o coma, ele germina logo. Agora, se ele quiser terra especial ou a terra quiser um grão especial, a coisa é outra. Vai ver a ilustre autora como me vai dar razão nas suas penúltimas palavras que são estas:
"Permanecei mulher, se quereis um dia ser mãe - a 'Maternidade!' é essa a maior vitória que glorifica a mulher; é esta a sua grandiosa obra."
Não falaria eu com, tanto calor, mas diria a mesma coisa com simplicidade, chãmente.
Vossa Excelência, porém, está no seu direito, apesar de Diana, de fazê-lo da forma que o fez.
E essas suas palavras vêm a pêlo agora quando várias senhoritas se assanham para entrar para a estrada de ferro, para o Tesouro, como funcionárias públicas.
Há nisto vários erros, uns de ordem política, outros de ordem social. Os de ordem política consistem em permitir que essas moças se inscrevam em concurso para aspirar um cargo público, quando a lei não permite que elas o exerçam.
Não sou inimigo das mulheres, mas quero que a lei seja respeitada, para sentir que ela me garante.
Nos países em que se há permitido que as mulheres exerçam cargos públicos, os respectivos parlamentos têm votado leis especiais nesse sentido. Aqui, não. Qualquer ministro, qualquer diretor se julga no direito de decidir sobre matéria tão delicada. É um abuso contra o qual eu já protestei e protesto.
Quando era ministro Joaquim Murtinho - da Fazenda - é preciso saber - uma moça requereu inscrever-se em concurso para o Tesouro. Sabem o que ele fez, depois de ouvir as repartições competentes? Indeferiu o pedido, por não haver lei que tal autorizasse.
Nos Telégrafos e Correios, as moças têm acesso, porque os respectivos regulamentos -
autorizados pelo congresso - permitem. Nas outras repartições não; é abuso.
Mulher não é, no nosso direito, cidadão.
Está sempre em estado de menoridade. Por aí iria longe; por isso convém parar.
Spencer, na Introdução à ciência social observa que desde que o serviço militar obrigatório foi instituído em França, para todos os rapazes entre dezoito e vinte e um anos, o que obrigou as raparigas a virem a fazer os serviços que competiam àqueles, as exigências de altura, talhe, etc., para os recrutas foram pouco a pouco diminuindo; o trabalho da mulher tinha influído na geração...
Krafft-Ebbing diz, não sei onde, que a profissão da mulher é o casamento; por isso cumprimento Dona Diana D'Anteno por ter escrito o seu interessante opúsculo - Quereis encontrar marido? - Aprendei!...
Hoje, 26-6-1919 Sobre o desastre Viveu uma semana a cidade sob a impressão do desastre da rua da Carioca. A impressão foi tão grande, alargou-se por todas as camadas, que temo não ter sido de tal modo profunda, pois imagino que, quando saírem a luz estas linhas, ela já se tenha apagado de todos os espíritos.
Todos procuraram explicar os motivos do desastre. Os técnicos e os profanos, os médicos e os boticários, os burocratas e os merceeiros, os motorneiros e os quitandeiros, todos tiveram uma opinião sobre a causa da tremenda catástrofe.
Uma coisa, porém, ninguém se lembrou de ver no desastre: foi a sua significação moral, ou antes, social.
Nesse atropelo em que vivemos, neste fantástico turbilhão de preocupações subalternas, poucos têm visto de que modo nós nos vamos afastando da medida, do relativo, do equilibrado, para nos atirarmos ao monstruoso, ao brutal.
O nosso gosto que sempre teve um estalão equivalente à nossa própria pessoa, está querendo passar, sem um módulo conveniente, para o do gigante Golias ou outro qualquer de sua raça.
A brutalidade dos Estados Unidos, a sua grosseria mercantil, a sua desonestidade administrativa e o seu amor ao apressado estão nos fascinando e tirando de nós aquele pouco que nos era próprio e nos fazia bons.
O Rio é uma cidade de grande área e de população pouco densa; e, de tal modo o é, que se ir do Méier à Copacabana, é uma verdadeira viagem, sem que, entretanto, não se saia da zona urbana.
De resto, a valorização dos terrenos não se há feito, a não ser em certas ruas e assim mesmo em certos trechos delas, não se há feito, dizia, de um modo tão tirânico que exigisse a construção em nesgas de chão de sky-scrapers.
Por que os fazem então?
É por imitação, por má e sórdida imitação dos Estados Unidos, naquilo que têm de mais estúpido - a brutalidade. Entra também um pouco de ganância, mas esta é a acoraçoada pela filosofia oficial corrente que nos ensina a imitar aquele poderoso país.
Longe de mim censurar a imitação, pois sei bem de que maneira ela é fator da civilização e do aperfeiçoamento individual, mas aprová-la quand mème, é que não posso fazer.
O Rio de Janeiro não tem necessidade de semelhantes "cabeças-de-porco", dessas torres babilônicas que irão enfeá-lo, e perturbar os seus lindos horizontes. Se é necessário construir algum, que só seja permitido em certas ruas com a área de chão convenientemente proporcional.
Nós não estamos como a maior parte dos senhores de Nova York, apertados, em uma pequena ilha; nós nos podemos desenvolver para muitos quadrantes. Para que esta ambição então? Para que perturbar a majestade da nossa natureza, com a plebéia brutalidade de monstruosas construções?
Abandonemos essa vassalagem aos americanos e fiquemos nós mesmos com as nossas casas de dois ou três andares, construídas lentamente, mas que raramente matavam os seus humildes construtores.
Os inconvenientes dessas almanjarras são patentes. Além de não poderem possuir a mínima beleza, em caso de desastre, de incêndio, por exemplo, não podendo os elevadores dar vazão à sua população, as mortes hão de se multiplicar. Acresce ainda a circunstância que, sendo habitada, por perto de meio a um milhar de pessoas, verdadeiras vilas, a não ser que haja uma polícia especial, elas hão de, em breve favorecer a perpetração de crimes misteriosos.
Imploremos aos senhores capitalistas para que abandonem essas imensas construções, que irão, multiplicadas, impedir de vermos os nossos purpurinos crepúsculos do verão e os nossos profundos céus negros do inverno. As modas dos "americanos" que lá fiquem com eles;
fiquemos nós com as nossas que matam menos e não ofendem muito à beleza e à natureza.
Sei bem que essas considerações são inatuais. Vou contra a corrente geral, mas creiam, que isso não me amedronta. Admiro muito o Imperador Juliano e, como ele, gostaria de dizer, ao morrer: "Venceste Galileu".
Revista da Época, 20-7-1917 Tenho esperança que...
Certas manhãs quando desço de bonde para o centro da cidade, naquelas manhãs em que, no dizer do poeta, um arcanjo se levanta de dentro de nós; quando desço do subúrbio em que resido há quinze anos, vou vendo pelo longo caminho de mais de dez quilômetros, as escolas públicas povoadas.
Em algumas, ainda surpreendo as crianças entrando e se espalhando pelos jardins à espera do começo das aulas, em outras, porém, elas já estão abancadas e debruçadas sobre aqueles livros que meus olhos não mais folhearão, nem mesmo para seguir as lições de meus filhos. Brás Cubas não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria; eu, porém, a transmitiria de bom grado.
Vendo todo o dia, ou quase, esse espetáculo curioso e sugestivo da vida da cidade, sempre me hei de lembrar da quantidade das meninas que, anualmente, disputam a entrada na Escola Normal desta idade; e eu, que estou sempre disposto a troçar as pretensões feministas, fico interessado em achar no meu espírito uma solução que satisfizesse o afã do milheiro dessas candidatas a tal matricula, procurando com isso aprender para ensinar, o quê? O curso primário, as primeiras letras a meninas e meninos pobres, no que vão gastar a sua mocidade, a sua saúde e fanar a sua beleza. Dolorosa coisa para uma moça...
A obscuridade da missão e a abnegação que ela exige, cercam essas moças de um halo de heroísmo, de grandeza, de virtudes que me faz naquelas manhãs em que sinto o arcanjo dentro da minha alma, cobrir todas elas da mais viva e extremada simpatia. Eu me lembro também da minha primeira década de vida, de meu primeiro colégio público municipal na rua do Resende, das suas duas salas de aula, daquelas grandes e pesadas carteiras do tempo e, sobretudo, da minha professora - Dona Teresa Pimentel do Amaral - de quem, talvez se a desgraça, um dia, enfraquecer-me a memória não me esqueça de todo.
De todos os professores que eu tive, houve cinco que me impressionaram muito; mas é, dela que guardo mais forte impressão.
O doutor (assim o tratávamos) Frutuoso da Costa, um deles, era um preto mineiro, que estudara para padre e não chegara a ordenar-se. Tudo nele era desgosto, amargor; e, as vezes, deixávamos de analisar a Seleção, para ouvirmos de sua feia boca histórias polvilhadas dos mais atrozes sarcasmos. Os seus olhos inteligentes luziam debaixo do pince-nez e o seu sorriso de remoque mostrava os seus dentes de marfim de um modo que não me atrevo a. qualificar. O
seu enterro saiu de uma quase estalagem.
Um outro foi o Senhor Francisco Varela, homem de muito mérito e inteligente, que me ensinou História Geral e do Brasil. Tenho uma notícia de polícia que cortei de um velho Jornal do Comércio de 1878. Desenvolvida com a habilidade e o savoirfaire daqueles tempos, contava como foi preso um sujeito por trazer consigo quatro canivetes. "Explorava-a", como diz hoje nos jornais, criteriosamente o redator dizendo que “ordinariamente basta que um homem traga consigo uma única arma qualquer para que a polícia ache logo que deve chamá-lo a contas".
Isto era naquele tempo e na Corte, pois o professor Chico Varela usava impunemente não sei quantos canivetes, quantos punhais, revólveres; e, um dia, apareceu-nos com uma carabina.
Era no tempo da Revolta. Gabava-se, no que tinha muita razão, de ser parente de Fagundes Varela; mas sempre citava a famosa metáfora de Castro Alves, como sendo das mais belas que conhecia: “Qual Prometeu tu me amarraste um dia"...
Era um belo homem e, se ele ler isto, não me leve a mal. Recordações de menino...
Foi ele quem me narrou a lenda dos começos da guerra de Tróia, que, como sei hoje, é da autoria de um tal Estásinos de Chipre. Parece que é fragmento de um poema deste, conservado não sei em que outro livro antigo. O filho do rei de Tróia, Páris, foi chamado a julgar uma contenda entre deusas, Vênus, Minerva e Juno.
Houvera um banquete no céu e a Discórdia, que não havia sido convidada, para vingar-se, atirou um pomo de ouro, com a inscrição – “À mais bela". Páris, chamado a julgar quem merecia o prêmio, entre as três, hesitou. Minerva prometia-lhe a sabedoria e a coragem; Juno, o poder real e Vênus... a mulher mais bela do mundo.
Aí, ele não teve dúvidas: deu o “pomo" à Vênus. Encontrou-se com Helena, que era mulher do rei Menelau, fugiu com ela; e a promessa de Afrodite foi cumprida. Menelau não quis aceitar esse rapto e declarou guerra com uma porção de outros reis à Tróia. Essa história é da mitologia; pois hoje me parece do catecismo. Naqueles dias, ela me encantou e fui da opinião do troiano; atualmente, porém, não sei como julgaria, mas certo não desencadearia uma guerra por tão pouca coisa.
Varela contava tudo isto com uma eloqüência cheia e entusiasmo, de transbordante paixão; e, ao me lembrar ele, comparo-o sempre com o doutor Ortiz Monteiro, que foi meu lente, sempre calmo, metódico, não perdendo nunca um minuto para não interromper a exposição da sua geometria descritiva. A sua pontualidade e o seu amor em ensinar a sua disciplina faziamno uma exceção no nosso meio, onde os professores cuidam pouco nas suas cadeiras, para se ocuparem de todo outro qualquer afazer.
De todos eu queria também falar da Senhor Oto de Alencar, mas que posso eu dizer da sua cultura geral e profunda, da natureza tão diferente da sua inteligência da nossa inteligência, em geral? Ele tinha alguma coisa daqueles grandes geômetras franceses que vêm de Descartes, passam por d'Alembert e Condorcet, chegam até nossos dias em Bertrand e Poincaré. Podia tocar em tudo e tudo receberia a marca indelével do seu gênio. Entre nós, há muitos que sabem; mas não são sábios. Oto, sem eiva de pedantismo ou de insuficiência presumida, era um gênio universal, em cuja inteligência a total representação científica do mundo tinha lhe dado, não só a acelerada ânsia de mais, saber, mas também a certeza de que nunca conseguiremos sobrepor ao universo as leis que supomos eternas e infalíveis. A nossa ciência não é nem mesmo uma aproximação; é uma representação do Universo peculiar a nós e que, talvez, não sirva para as formigas ou gafanhotos. Ela não é uma deusa que possa gerar inquisidores de escalpelo e microscópio, pois devemos sempre julgá-la com a cartesiana dúvida permanente. Não podemos oprimir em seu nome.
Foi o homem mais inteligente que conheci e o mais honesto de inteligência.
Mas, de todos, de quem mais me lembro, é de minha professora primária, não direi do "ab-c", porque o aprendi em casa, com minha mãe, que me morreu aos sete anos.
É com essas recordações em torno das quais esvoaçam tantos sonhos mortos e tantas esperanças por realizar, que vejo crepitar esse matutino movimento escolar; e penso nas mil e tantas meninas que todos os anos acodem ao concurso de admissão à Escola Normal.
Tudo têm os sábios da Prefeitura imaginado no intuito de dificultar a entrada. Creio mesmo que já se exigiu Geometria Analítica e Cálculo Diferencial, para crianças de doze a quinze anos; mas nenhum deles se lembrou da medida mais simples. Se as moças residentes no Município do Rio de Janeiro mostram de tal forma vontade de aprender, de completar o seu curso primário com um secundário e profissional o governo só deve e tem a fazer uma coisa:
aumentar o número das escolas de quantas houver necessidade.
Dizem, porém, que a municipalidade não tem necessidade de tantas professoras, para admitir cerca de mil candidatas a tais cargos, a despesa, etc. Não há razão para tal objeção, pois o dever de todo governo é facilitar a instrução dos seus súditos.
Todas as mil que se matriculassem, o prefeito não ficava na obrigação de fazê-las professoras ou adjuntas. Educá-las-ia só se estabelecesse um processo de escolha para sua nomeação, depois que completassem o curso.
As que não fossem escolhidas, poderiam procurar o professorado particular e, mesmo como mães, a sua instrução seria utilíssima.
Verdadeiramente, não há estabelecimentos públicos destinados ao ensino secundário às moças. O governo federal não tem nenhum, apesar da Constituição impor-lhe o dever de prover essa espécie de ensino no Distrito. Ele julga, porém, que só são os homens que necessitam dele; e mesmo os rapazes, ele o faz com estabelecimentos fechados, para onde se entra à custa de muitos empenhos.
A despesa que ele tem, com os Ginásios e o Colégio Militar bem empregada daria para maior número de externatos, de liceus. Além de um internato no Colégio Militar do Rio, tem outro em Barbacena, outro em Porto Alegre, e não sei se projetam mais alguns por aí.
Onde ele não tem obrigação de ministrar o ensino secundário, ministra; mas aqui, onde ele é obrigado, constitucionalmente, deixa milhares de moças a impetrar a benevolência do governo municipal.
A municipalidade do Rio de Janeiro que rende cerca de quarenta mil contos ou mais, podia ter há muito tempo resolvido esse caso; mas a política que domina a nossa edilidade não é aquela que Bossuet definiu. A nossa tem por fim fazer a vida incômoda e os povos infelizes; e os seus partidos têm por programa um único: não fazer nada de útil.
Diante desse espetáculo de mil e tantas meninas que querem aprender alguma coisa, batem à porta da Municipalidade e ela as repele em massa, admiro que os senhores que entendem de instrução pública, não digam alguma coisa a respeito.
E creio que não é fato insignificante; e, por mais que fosse e capaz de causar prazer ou dor à mais humilde criatura, não seria demasiado insignificante para não merecer a atenção do filósofo. Creio ser de Bacon essa observação.
O remédio que julgo tão simples, pode não sê-lo; mas, espero despertar a atenção dos entendidos e serão eles capazes de achar um bem melhor. Ficarei muito contente e tenho esperança que tal se dê.
Bagatelas, 3-5-1918 Uma outra - É um engano supor que o povo nosso só tenha superstições com sapatos virados, cantos de coruja; e que só haja na sua alma crendices em feiticeiros, em cartomantes, em rezadores, etc. Ele tem, além dessas superstições todas, uma outra de natureza singular, partilhada até, como as demais, por pessoas de certo avanço mental.
Dizia-me isto, há dias, um meu antigo companheiro de colégio que se fizera engenheiro e andava por estes Brasis todos, vegetando em pequenos empregos subalternos de estudos e construção de estradas de ferro e até aceitara simples trabalhos de agrimensor. Em encontro anterior, ele me dissera: "Antes eu tivesse ficado nos correios, pois ganharia agora mais ou menos aquilo que tenho ganho com o 'canudo', e sem canseiras nem maçadas". Quando se formou já era amanuense postal.
Tendo ele, daquela vez, me falado em superstição nova do nosso povo que observara, não pude conter o meu espanto e perguntei-lhe com pressa:
- Qual é?
- Não sabe?
- Não.
- Pois é a do doutor.
- Como?
- O doutor para a nossa gente não é um profissional desta ou daquela especialidade. É um ser superior, semidivino, de construtura fora do comum, cujo saber não se limita a este ou aquele campo das cogitações intelectuais da humanidade, e cuja autoridade só é valiosa neste ou naquele mister. É onisciente, senão infalível. É só ver como a gente do mar do Lloyd, por exemplo, tem em grande conta a competência especial dos seus diretores - doutor. Todos eles são tão marítimos como um nosso qualquer ministro da Marinha nouveaugens, entretanto, os lobos-do-mar de todas as categorias não se animam a discutir a capacidade de seu chefe. É doutor e basta, mesmo que seja em filosofia e letras, coisas muito parecidas com comércio e navegação. Há o caso, que tu deves conhecer, daquele matuto que se admirou de ver que o doutor por ele pajeado, não sabia abrir uma porteira do caminho. Lembras-te? Iam a cavalo...
- Pois não! Que doutor é esse que não sabe abrir porteira? Não foi essa a reflexão do caboclo?
- Foi. Comigo, aconteceu-me uma muito boa.
- Qual foi?
- Andava eu perdido numas brenhas com uma turma de exploração. O lugar não era mau e até ali não houvera moléstias de vulto. O pessoal dava-se bem comigo e eu bem com ele.
Improvisamos uma aldeia de ranchos e barracas, pois o povoado mais próximo ficava distante umas quatro léguas. Morava eu num rancho de palha com uma espécie de capataz que me era afeiçoado. Dormia cedo e erguia-me cedo, muito de acordo com os preceitos do falecido Bom homem Ricardo. Uma noite não devia passar muito das dez - vieram bater-me à porta. "Quem é?" perguntei. "Somos nós." Reconheci a voz dos meus trabalhadores, saltei da rede, acendi o candeeiro e abri a porta. "Que há?" "Seu doutô! É u Feliço qui tá cô us óios arrivirados pra riba.
Acode qui vai morrê..." Contaram-me então todo o caso. O Felício, um trabalhador da turma, tinha tido um ataque, ou acesso, uma súbita moléstia qualquer e eles vinham pedir-me que acudisse o companheiro. "Mas", disse eu, "não sou médico, meus filhos. Não sei receitar". "Quá, seu doutô! Quá! Quem é doutô sabe um pouco de tudo". Quis explicar a diferença que existia entre um engenheiro e um médico. Os caipiras, porém não queriam acreditar. Da mansidão primeira, foram se exaltando, até que um disse a outro um tanto baixo, mas eu ouvi: "A minha vontade é aprontá esse marvado! Ele u qui não qué é i. Deixa ele!" Ouvindo isto, não tive dúvidas. Fui até ao barracão do Felício, fingi que lhe tomava o pulso, pois nem isso sabia, determinei que lhe dessem um purgante de óleo e...
- Eficaz medicina! refleti.
- ...depois do efeito, umas cápsulas de quinino que sempre tinha comigo.
- O homem curou-se?
- Curou-se.
- Ainda bem que o povo tem razão.
Vida urbana, 6-3-1920 Variações...
Não sei se os senhores leram que a policia, graças à denúncia de populares, foi encontrar num matagal de Fábrica das Chitas, um indivíduo de cor preta, que aí armara tenda, comia e fazia outras necessidades naturais. Não diz a notícia dos jornais que o homem se alimentasse de caça e pesca, acabando assim o quadro de uma vida humana perfeitamente selvagem, desenvolvendo-se bem perto da avenida Central que se intitula civilizada.
Seria um modelo que deveríamos todos imitar; pelo estado em que as coisas estão, com ameaça de ficarem piores, é bem de crer que tenhamos que fazer o que o tal Rolim estava fazendo nas matas do Trapicheiro; entretanto, conquanto o sistema de vida que havia adotado ultimamente o tal solitário, seja digno de sugerir milhares de adeptos, a sua em si mesmo não era lá grande coisa, capaz de ser copiada. O homem já havia tido negócios com a polícia e com a justiça, contando dezoito entradas no Corpo de Segurança e uma condenação por se ter apropriado de coisa alheia; além disto, tinha consigo uma mala com cartas, etc., que parecia não ser dele. É, como vêem, um sujeito ultracivilizado e não um apóstolo convencido da nossa volta à natureza para... fugir aos pasmosos aluguéis de casa.
Atualmente, nada mais mete medo a um pobre-diabo que a tal história de aluguel de casa:
Não há quem não esteja pagando, por trapeiras, exorbitantes locações dignas da bolsa de ricaços e altos escrocs internacionais. Um amigo, muito meu amigo mesmo, paga atualmente, nos confins dos subúrbios, o avantajado aluguel de duzentos e cinco mil-réis por uma casa que, há dois anos, não lhe custava mais de cento e cinqüenta mil-réis. Para melhorar um tão doloroso estado de coisas, a prefeitura põe abaixo o Castelo e adjacências, demolindo alguns milhares de prédios, cujos moradores vão aumentar a procura e encarecer, portanto, ainda mais, as rendas das habitações mercenárias.
A municipalidade desta cidade tem dessas medidas paradoxais, para as quais chamo a atenção dos governos das grandes cidades do mundo. Fala-se, por exemplo, na vergonha que é a Favela, ali, numa das portas de entrada da cidade - o que faz a nossa edilidade? Nada mais, nada menos do que isto: gasta cinco mil contos para construir uma avenida nas areias de Copacabana. Clama-se contra as péssimas condições higiênicas do matadouro de Santa Cruz, imediatamente a prefeitura providencia chamando concorrência para a construção de um prado de corridas modelo, no Jardim Botânico, à imitação do Chantilly.
De forma que a nossa municipalidade não procura prover as necessidades imediatas dos seus munícipes, mas as suas superfluidades. É uma teoria de governo que devia estar na cabeça daquele régulo selvagem que atirava sementes fora e só tinha extremos para as bugigangas de vidros coloridos.
A casa, como ia dizendo, é nos dias que correm, um pesadelo atroz. Todos explicam esse encarecimento da locação dos prédios com a carestia dos materiais de construção, que cresceram de preço demasiadamente nos últimos seis anos, refletindo esse encarecimento no custo dos caibros, ripas, sarrafos, tábuas, esquadrias que já estavam apodrecendo, há mais de vinte, em prédios velhos, de forma que os aluguéis destes tiveram que subir também paralelamente aos novos.
O Governo Federal - não há negar - tem sido paternal. A sua política, a respeito, é de uma bondade de São Francisco de Assis: aumenta os vencimentos e, concomitantemente, os impostos, isto é, dá com uma mão e tira com a outra.
Um amanuense ganha hoje perto de um conto de réis; mas, em compensação, só de ama-seca, por mês, paga mais de duzentos mil-réis. Um francês, observando que nós falávamos em quinhentos, em mil, em dois mil-réis, etc., quando eram de fato quantias insignificantes em nada correspondendo o seu poder aquisitivo às altas cifras que nos saíam da boca, disse:
- Vocês são muito ricos... na aritmética.
Pois continuamos a ser e ainda havemos de sê-lo por muito tempo. O amanuense que ganha um conto de réis, julgar-se-á milionário ao saber que Fernando de Magalhães deixou o serviço de sua pátria e foi viver à Castela, porque o “Venturoso" lhe negou o aumento de cem réis (um tostão) mensais na sua mesada de fidalgo da casa real; mas julgar-se-á um pobre quando tiver que pagar pelo seu cochicholo trezentos mil-réis, por mês, - preço tal que, talvez, no tempo de Magalhães, o rei não pagasse, se o tivesse de fazer, pelo seu palácio, em Lisboa.
A questão é do real, essa absoluta e fictícia unidade monetária que nos ilude e espanta os estrangeiros.
Isto seria uma questão a debater-se no congresso, a qual, talvez, não fosse sem propósito para acalmar os nervos dos deputados e senadores, nos debates dessa chatíssima perlenga de candidaturas presidenciais. É preciso não esquecer que é uma questão de unidade de moeda -
base de tudo.
O que parece atualmente é que o governo, seja municipal, seja federal, é impotente para resolver a carestia da vida e o encarecimento exorbitante dos aluguéis de casas.
Todos os alvitres têm sido lembrados e todos têm sido rejeitados e criticados asperamente, como não obedecendo às leis de economia política e da ciência das finanças, quer públicas, quer particulares, quer individuais.
O meu ilustre confrade Veiga Miranda e o mirabolante e algorítmico Cincinato Braga já propuseram, para remediar uma tão deplorável situação, encaminhar grande massa de nossa população para o campo. Eles a querem para as fazendas. Eu proponho melhor. Que sejam dados a cada indivíduo isolado um machado, um facão, uma espingarda de caça, chumbo, espoletas, enxadas, semente, uma cabra, um papagaio e um exemplar de Robinson Crusoe.
O livro de Defoe será, como a Bíblia desses mórmons de nova espécie; e com a fé que ele lhes há de inocular, teremos, em breve, a cidade do Rio de Janeiro descongestionada e o sertão devassado e povoado.
Os nossos robinsons irão se estabelecendo pelo caminho, erguendo choças para a sua moradia, onde não haverá barbeiros; plantando cereais, café e cana que não serão perseguidos por insetos daninhos; e encontrarão ainda pelo caminho, jecas que lhes servirão de "sextasfeiras" amigos. A roupa, para os mais industriosos, será obtida com a tecelagem do algodão, pelos meios primitivos; e os mais preguiçosos poderão voltar a vestir-se como os velhos caboclos que figuram em Gonçalves Dias e José de Alencar e nas nossas nobiliarquias respeitáveis, inclusive a de Taques.
O problema será assim resolvido, em prol do progresso do país e é de notar que tão fecunda solução foi encontrada num simples romance ao qual as pessoas sisudas não dão importância.
Marginália, 14-1-1922
O que você achou desse texto?
Comente abaixo e participe!