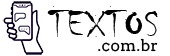Questão de vaidade
I
Suponha o leitor que somos conhecidos velhos. Estamos ambos entre as quatro paredes de uma sala; o leitor, sentado em uma cadeira com as pernas sobre a mesa, à moda americana, eu, a fio comprido em uma rede do Pará, que se balouça voluptuosamente, à moda brasileira, ambos enchendo o ar de leves e caprichosas fumaças, à moda de toda gente.
Imagine mais que é noite. A janela aberta deixa entrar as brisas aromáticas do jardim, por entre cujos arbustos se descobre a lua surgindo em um límpido horizonte.
Sobre a mesa ferve em aparelho próprio uma pouca de água para fazer uma tintura de chá. Não sei se o leitor adora como eu a deliciosa folha da Índia. Se não, pode mandar vir café e fazer com a mesma água a bebida de sua predileção.
Não se obriga, nem se constrange ninguém nestas práticas imaginadas. Se estivéssemos na vida real, eu começaria por querer até privar-me do chá, e por sua parte o leitor dispensava o café, para ser do meu agrado. Felizmente não é assim.
Ora, como é noite, e como não hajam cuidados para nós, temos ambos percorrido toda a planície do passado, apanhando a folha do arbusto que secou ou a ruína do edifício que abateu.
Do passado vamos ao presente, e as nossas mais íntimas confidências se trocam com aquela abundância de coração própria dos moços, dos namorados e dos poetas.
Finalmente, nem o futuro nos escapa. Com o mágico pincel da imaginação traçamos e colorimos os quadros mais grandiosos, aos quais damos as cores de nossas esperanças e da nossa confiança.
Suponha o leitor que temos feito tudo isto e que nos apercebemos de que, ao terminar a nossa viagem pelo tempo, é já meia-noite. Seriam horas de dormir se tivéssemos sono, mas cada qual de nós, avivado o espírito pela conversação, mais e mais deseja estar acordado.
Então, o leitor, que é perspicaz e apto para sofrer uma narrativa de princípio a fim, descobre que eu também me entrego aos contos e novelas, e pede que lhe forje alguma coisa do gênero.
E eu para ir mais ao encontro dos desejos do leitor imaginoso, não lhe forjo nada, alinhavo alguns episódios de uma história que sei, história verdadeira, cheia de interesse e de vida. E para melhor convencer o meu leitor vou tirar de uma gaveta algumas cartas em papel amarelado, e antes de começar a narrativa, leio-as, para orientá-lo no que lhe contar.
O leitor arranja as suas pernas, muda de charuto, e tira da algibeira um lenço para o caso de ser preciso derramar algumas lágrimas. E, feito isto, ouve as minhas cartas e a minha narrativa.
Suponha o leitor tudo isto e tome as páginas que vai ler como uma conversa à noite, sem pretensão, nem desejo de publicidade.
II
EDUARDO AO SEU AMIGO PEDRO ELÓI
Meu amigo, Acendo duas velas para escrever-te. É como se eu confiasse diante de um altar as minhas penas e as minhas felicidades. Tens sido para mim o santo milagroso por excelência; nada desejo que por influxo teu não seja cumprido. E mais ainda: nas minhas atribulações é a tua palavra que me sustenta, como a voz da verdade e da justiça. Não te admires, pois, da precaução que tomei de iluminar este papel como o faria à pedra de um altar.
Ora, ainda assim não é tanto ao santo, como ao filósofo, que eu me dirijo desta vez.
Talvez amanhã te vá pedir consolações, mas agora o que desejo é a solução de um fenômeno moral.
Sabes do meu amor por Maria Luísa, a interessante viuvinha que eu encontrei há dois meses e a quem parece que inspirei algum amor. Pouco falta para que este amor seja coroado de um feliz sucesso, substituindo eu o finado marido, que, seja dito neste papel, parece que era suficientemente prosaico.
Quando te comuniquei esta paixão mandaste-me bons conselhos de prudência que eu li com a maior veneração. Dizias que me não fosse enganar e tomar por amor aquilo que não passava de capricho. Acrescentavas que a tua dúvida nascia dos termos de minha carta.
Pesei as tuas palavras e gravei-as na memória. O resultado foi que estavas em puro engano. Eu amava deveras Maria Luísa.
Mas vamos ao fenômeno. Antes de entrar em outros pormenores, insisto em dizer que amava e amo a viúva. Já te disse qual a força deste amor e o que me havia inspirado.
Não quero fazer repetições inúteis, mas insisto nesta observação.
Ouve agora o que me acaba de acontecer há oito dias:
Tinha eu ido passar uma noite em S. Domingos em casa de dois amigos. No dia seguinte, seriam cinco horas, acordei sobressaltado com os preparativos que se faziam em casa para ir aos banhos de mar. Os meus hóspedes ficaram pesarosos de me terem acordado tão cedo; mas eu, que já de longa data tenho a minha aurora às onze horas da manhã, não fiquei descontente de poder fazer exceção à regra.
Vesti-me, como eles, e fui com eles à praia das Flechas, lugar usual dos banhos.
Diversas barracas se levantavam na praia, contra a qual se quebrava o mar agitado.
Algumas moças já andavam à flor das águas, enfronhadas nas suas camisolas do costume. Outras iam saindo, de quando em quando, do interior das barracas e tomando o caminho do mar.
Um ou outro grito, soltado no meio do susto produzido por uma vaga mais alta ou mais violenta, unia-se ao sussurro do mar.
Os maridos, pais e irmãos, que não tomavam banho, ou conversavam, ou liam, ou olhavam o ar, enquanto as graças humanas brincavam com o elemento a que Shakespeare as comparou.
Armou-se a nossa barraca e prepararam-se os meus companheiros para o banho. Eu de mim, confesso, preferia ver as damas banharem-se e rir do susto que elas tivessem.
Demais, apesar de estarmos no verão, fazia nesse dia um tal frio que me arredava da água cinqüenta léguas.
Os meus companheiros apresentavam-me o exemplo das damas que tão destemidamente afrontavam o tempo e o mar. Mas eu, depois de citar Shakespeare no que tocava à identidade das mulheres e do mar, citei-me a mim próprio, acrescentando que a maioria das senhoras que se banhavam o faziam por moda ou por bom-tom.
Enfim, consegui não ir à água. Enquanto os outros se banhavam fui sentar-me em uma pedra que ali estava perto. Estive contemplando as banhistas alguns minutos. Mas, como sempre acontece, os meus olhos, depois de correr todo o grupo voltavam aos primeiros, e assim via eu duas ou três vezes as mesmas caras, graciosas ou assustadiças, arrecearem-se ou brincarem com a água revolta.
Ora, uma dessas figuras, a terceira vez que passou sob o meu olhar, deteve-o alguns minutos. Estávamos a certa distância que me não permitia distinguir-lhe as feições, mas havia na temeridade, na graça, no recato com que ela se banhava, uma tal diferença das outras, que eu não pude deixar de examiná-la com mais interesse.
Não podendo distinguir-lhe, como disse, as feições, esperei que ela estivesse em terra para procurar admirá-la ou correr-me de uma ilusão.
Nisto estava, quando a moça, que parecia nada temer e arredava-se da praia mais do que era conveniente, foi engolida por uma vaga. Só flutuavam à flor d’Favorita') Favorita: Ó mio Fernando...
A vaidade do rapaz era mais forte que o amor. Subindo as escadas dizia ele mentalmente: — Aquele mio Fernando quer dizer mio Edoardo.
Não quis bater palmas. A porta estava entreaberta. Adiantou a cabeça e deu com os olhos na viúva e na velha. A primeira não podia vê-lo. À velha, que logo o viu, fez Eduardo um sinal para que se calasse. Quando Maria Luísa terminou a ária, Eduardo bateu palmas e deu um bravo. Ela voltou-se e correu a recebê-lo.
Maria Luísa era realmente digna de um grande amor, mas da parte de outro homem que não fosse Eduardo. Amava-se nela tudo, até o amor que se lhe entornava dos olhos como bálsamo de um vaso demasiado cheio. Adivinhava-se que o primeiro marido não conhecera nunca o tesouro que possuíra e tomara aquela mulher pela razão que fez Abraão tomar a escrava Ágar.
Era de estatura mediana. O rosto, antes cheio que magro, tinha a expressão dessas almas enérgicas e violentas que não transigem nem se sujeitam senão com a condição de se lhes dar em troca a felicidade e o bem. Os olhos eram castanhos como os cabelos.
Tinha o nariz ligeiramente aquilino. A boca era das mais corretas e graciosas. Quanto ao resto do corpo, adivinhavam-se, através de um vestido de seda cor de pérola, as formas mais perfeitas que jamais sonhara Praxíteles.
Se Eduardo não estivesse tão atento a ver o efeito que produzia, poderia enxergar, quando Maria Luísa se levantou do piano, o mais delicado pé depois do da Cendrilon, meio escondido em um sapatinho raso de cetim.
Concebe-se que Maria Luísa, tal como a esbocei, inspirasse a Eduardo, não o amor, em que só ele acreditava, mas os desejos de que falava Pedro Elói. Para os espíritos medíocres é fácil confundir uma e outra coisa. Diante de Maria Luísa, Eduardo perguntava a si mesmo se não era realmente amor o que sentia pela viúva. Já sabemos qual era a resposta que ele mesmo dava a esta íntima interrogação.
A mãe de Maria Luísa era desses tipos de velhice respeitável e afável a um tempo com quem, sem perder a devida veneração, pode-se usar da mais franca familiaridade.
A recepção de Eduardo foi a melhor possível. A velha cumprimentou-o como se fora seu filho. Maria Luísa, com uma alegria a que se misturava certa dose de censura, disse-lhe:
— Graças a Deus! Estivemos ansiosas por vê-lo. Mamãe dizia que já se havia esquecido de nós; mas eu, não querendo acreditar isso, acreditei a verdade: melhores distrações que a nossa companhia o detiveram decerto.
— Não há tal, disse Eduardo aceitando a cadeira que a mãe de Maria Luísa lhe oferecia, e sentando-se defronte desta. Estive meio adoentado. Quis sair, apesar de tudo, mas o médico proibiu-me expressamente.
Uma mentira desta natureza e neste sentido, mesmo que se conheça, é ouvida com agrado. A humanidade é feita deste modo. Dispensa a verdade, uma vez que lhe preguem uma mentira lisonjeira.
Em honra de Maria Luísa, devo dizer que ela aceitou as palavras de Eduardo como se foram textos evangélicos.
Eduardo, tendo feito passar a invenção da moléstia, indagou da saúde e do bem estar das duas senhoras. A conversa demorou-se meia hora sobre assuntos indiferentes ao nosso.
Finalmente, como viessem chamar a mãe de Maria Luísa, esta pôde ficar uns quinze minutos a sós com Eduardo.
Houve um instante de silêncio. Da parte de Maria Luisa, era natural enleio. Da parte de Eduardo, não era natural, mas era enleio; provinha da paixão que ele acreditava em si.
A bela viúva rompeu o silêncio.
— Sabe que lamentei a sua falta?
— Chorou?
— Não acredita, mas chorei.
— Devo crer tamanha felicidade?
— Por que não?
— Não posso. Quando me lembro, em meus sonhos de ambição, que a Providência podia dar-me a mais invejável das felicidades, ocorre-me sempre que era preciso merecê-la; e eu não mereço, desta a que aludo, nem a décima parte.
Trocou-se entre ambos um olhar. Maria Luísa levantou-se. Eduardo seguiu-a com os olhos. Ela foi a uma jarra e tirou duas pequenas rosas brancas.
Quer uma? perguntou a Eduardo, encaminhando-se para ele.
Eduardo estendeu a mão para aceitar a flor. Tocaram-se os dedos, e nesse contacto Maria Luísa estremeceu. Eduardo segurou a mão da viúva e levou-a à boca. Maria Luísa, abandonando a mão a Eduardo, inclinou a cabeça e deixou-se possuir da felicidade que aquele beijo, dado tão ardentemente, lhe fazia entrar no coração.
Depois, passado o primeiro enlevo, a viúva retirou a mão, foi para o piano, e começou a cantar com mais viva expressão a ária da Favorita.
Eduardo levantou-se e foi encostar-se ao piano.
Tinham ambos os olhos confundidos, e nesse enlevo cantou Maria Luísa e Eduardo ouviu.
Às últimas notas, entrou na sala a dona da casa.
— É uma singular predileção a tua por esta ária, minha filha.
— É realmente deliciosa, disse Eduardo.
— De poucas coisas gosto tanto como disto, acrescentou Maria Luísa.
Eduardo, depois de algumas palavras mais, declarou que ia sair.
— É verdade, tenho uma visita para fazer.
— Não janta conosco?
— Desculpe, não posso.
— Ao menos, virá tomar chá, não?
— Venho.
— Com certeza?
— Com certeza.
— Olhe, não falte, acrescentou a velha, olhando com certa inteligência para a filha.
— Não falto.
Eduardo apertou a mão à velha e a Maria Luísa. Esta tinha os olhos rasos de lágrimas de felicidade, de saudade, de amor, de tudo. Eduardo olhou para ela a última vez e disse, procurando a expressão mais terna de sua voz:
— Até logo!
— Até logo! respondeu a moça.
Eduardo saiu.
Maria Luísa foi à janela vê-lo ainda. Depois, voltando para dentro, deitou-se aos braços de sua mãe.
— Amas, não, minha filha?
— Oh! muito! muito!
— Pois eu creio que ele também te ama. Juro-te que hão de ser felizes. Ele é só. Tu podias ter obstáculo em mim, mas eu só desejo a tua felicidade.
IV
Deixando a casa de Maria Luísa, Eduardo tomou um tílburi e mandou tocar para a ponte das barcas de S. Domingos. Dentro de dez minutos estava lá.
Apeou, pagou o tílburi e entrou na estação. Ali esperou a primeira barca que devia partir e que era a das duas e meia horas. Entre os passageiros que esperavam houve um que mereceu desde logo a atenção e os cumprimentos de Eduardo.
Era um homem de quarenta e cinco anos, baixo, meio gordo, fisionomia insinuante, destas que, mesmo sérias, trazem impresso inconstante sorriso.
Eduardo dirigiu-se para ele e cumprimentou-o afetuosamente, dizendo:
— O sr. Almeida dá-me um grande prazer. Não contava desde já o prazer de cumprimentá-lo.
— Por quê? perguntou o indivíduo, dando a Eduardo lugar ao pé de si.
— Porque só daqui a três quartos de hora contava estar em sua casa.
— Ah! tanto melhor! tanto melhor!
— Toda a família está boa?
— Tudo vai indo, obrigado. Há quantos dias não vai lá?
— Creio que há dois.
— Ainda ontem Sara falou em seu nome. Ontem não, creio que foi hoje de manhã.
— Deveras? perguntou Eduardo sem dissimular a alegria que lhe dava esta notícia.
Neste momento, chegava a barca, os dois tomaram passagem, daí a três quartos de hora estavam à porta da chácara de Almeida.
Sara, a filha deste, o objeto do segundo amor de Eduardo, veio recebê-los à porta. Mais atrás vieram o filho e o irmão de Almeida. Eduardo foi recebido por todos com verdadeiro regozijo.
Em duas palavras apresento a família de Almeida ao leitor.
Almeida, na época em que se passam estes acontecimentos, vivia do que ganhara durante uma vida laboriosa de longos anos. Não vivia com parcimônia, mas também não era pródigo. Tinha a ciência da economia doméstica, mediante a qual sabia despender utilmente, sem faltas nem sobras.
Era viúvo. No fim de oito anos de casado, morrera-lhe a mulher, deixando dois filhos, um rapaz e uma menina.
A menina era mais velha que o rapaz; contava este seis e aquela sete anos, quando morreu a mulher de Almeida.
Almeida completou por si a educação tão zelosamente começada por sua mulher. Sara cresceu sob os melhores auspícios. Aumentou em beleza e conservou até à idade de dezessete anos a inocência e a graça da infância. Era um bom coração em toda a pureza da palavra. Nenhuma nuvem negra perturbara o céu sempre claro do seu espírito.
Quanto à beleza física, imagine o leitor o que podia fazer contraste com a beleza da viúva Maria Luísa. Esta, como disse já, acusava em suas feições uma alma dada à violência das paixões, uma rara energia moral. Sara não era assim! Parecia uma criatura do outro mundo, caída por engano no mundo dos Eduardos. Era um alfenim, uma delicadeza que não parecia natural. Delgada e um tanto alta, olhos negros, cabelos alourados, porte senhoril sem altivez, elegante sem artifício, graciosa sem afetação: tal era Sara.
Se a compararmos à viúva, teremos, conforme a respectiva presença, a disposição do gênio de cada uma. Maria Luísa amava como as italianas: era ardente, apaixonada, violenta. Sara amava como as alemãs: era meiga, resignada, sentimental.
Estas duas mulheres diversas na índole, no gênio, talvez no coração, ligavam-se em um ponto: no amor por Eduardo, em quem viam, cada uma pelo prisma do seu espírito, o ideal sonhado em suas doces aspirações.
Disse acima que, após Sara, tinham ido receber Eduardo um irmão e um filho de Almeida.
Não têm estas duas figuras máxima importância na nossa história, mas devo designá-las como partes integrantes da família de uma das heroínas.
O tio de Sara tinha por nome Silvério. Era um aposentado da atividade. Em moço, e até certa idade madura, fora incansável trabalhador. Agora, descansava à sombra da fortuna e da amizade fraterna do pai de Sara.
Tinha sido solicitador de causas, e deste emprego, exercido por longos anos, trouxera até à velhice um espírito chicaneiro e discutidor. Era, além disso, uma inteligência acanhadíssima, frívola, tola, rasteira. Dava-se à apreciação de quantas anedotas e dictérios ouvia ou lia. Fazia a autópsia das nescedades escritas em jornais com o mesmo espírito com que outrora redigia um embargo ou uma assinação de dez dias.
Era aturado, estimado mesmo, em virtude de sua velhice, de seu grau de parentesco e de algumas virtudes que tinha.
Um espírito daquela natureza não podia fugir às seduções do jogo do xadrez, do qual dizia, creio eu a divina Staël, que para jogo era demasiado sério, e para negócio demasiado frívolo. Cito de memória.
Era, com efeito, um grande jogador de xadrez o tio Silvério. Por desgraça, Eduardo não o era menos, de modo que mal se anunciou a visita deste, correu Silvério para a porta com as braços abertos.
O filho de Almeida era um rapaz de dezesseis anos. Estudava direito em S. Paulo.
Durante os acontecimentos que estou narrando estava ele em férias no Rio de Janeiro.
A família Almeida recebeu Eduardo, como disse, com o mais cordial acolhimento.
Parecia um filho que chegava de longa viagem.
E para aquela gente, que estremecia tanto a formosa Sara, não era um filho aquele que a salvara da morte?
Enquanto Eduardo e Almeida descansavam do pequeno caminho que tinham feito, tratouse dos preparativos do jantar. Sara ia e vinha com uma graça encantadora. Dizia duas palavras a Eduardo, uma ao tio Silvério, duas a seu pai, sempre com aquele recato e modéstia, que tanto agradam, quando são verdadeiros, e tanto enjoam, quando são artificiais.
Na sala, sobre a mesa, estava um livro aberto. Eduardo procurou ler o que era; levantouse e foi saciar a curiosidade. Era Paulo e Virgínia. Um lenço marcado com a firma de Sara, atirado sobre as folhas abertas, para marcar a página, indicava quem estivera lendo a obra-prima de Saint-Pierre.
Eduardo pegou no livro e no lenço e foi sentar-se junto de uma janela. Sua vaidade impava de contente. Tinha diante de si um coração virgem, completamente virgem; um coração que ainda podia ler Paulo e Virgínia. Amar, conquistar, possuir esta menina, era surpreender a flor no botão; era ensinar o catecismo do amor, soletrar o credo do coração, a uma ignorante, a uma pura, a uma ingênua. Que mais podia ambicionar o caprichoso namorado?
Se alguma das pessoas da família tivesse olhar mais perspicaz poderia decerto descobrir no olhar e no sorriso com que Eduardo folheou o volume toda a satisfação de sua alma egoísta.
Pedro Elói, esse com certeza adivinharia tudo e diria tudo quanto pensasse. De longe, Eduardo podia desdenhar os conselhos prudentes do amigo, a quem chamava filósofo e santo milagroso; mas de perto, não seria assim. Pedro Elói tinha, de fato, certo ascendente sobre Eduardo, ao qual seria de maior proveito se lhes fosse possível conviver.
Depois de alguma espera, Sara mandou anunciar que o jantar se achava na mesa, e foi ela mesma buscar Eduardo, o pai e o tio.
— Que está lendo aí? perguntou ela a Eduardo, entrando na sala.
— Ah! perdão! respondeu este. Foi uma ousadia de que me arrependo; mas este livro aberto por suas mãos, lido por seus olhos, devia ter adquirido uma virtude nova, e eu quis aspirar-lha antes que outro o fizesse. Perdoa-me?
Almeida sorriu-se ouvindo estas palavras de Eduardo; Sara tomou-lhe o livro docemente, tocando com os seus dedos nos dele, e lançando-lhe um olhar da mais franca e pura satisfação; Silvério contentou-se em tomar uma pitada, dizendo:
— E contudo este moço joga bem o xadrez!
A palavra xadrez fez estremecer Eduardo. Era o sinal de um perigo iminente. Todavia, como fino cavalheiro que era, ofereceu o braço a Sara, e seguiu acompanhado de todos para a mesa do jantar.
Até aquela hora um só minuto não pudera falar a sós com Sara. Durante o jantar, era impossível. O jantar foi demorado, mais que de costume. Aproximou-se a noite.
Finalmente, levantaram-se todos e foram dar um passeio pelo jardim.
Aí, graças à circunstância de dar o braço a Sara, pôde Eduardo falar-lhe mais livremente, apressando ou demorando o passo, conforme as necessidades.
— Soube que tem pensado em mim, disse Eduardo a Sara, caminhando ao longo de uma cerca de roseiras. É verdade?
— Não sei, respondeu a moça.
— Vejo que é uma confirmação.
Quem foi o indiscreto ?
— Foi seu pai, mas é verdade?
— É sim: creio que não faz mal.
— Mal? Oh! nenhum! Fez a minha felicidade.
— Só em pensar?
— Pensar é interessar-se, interessar-se é... sabe o que é?
— Não sei, respondeu Sara corando.
Eduardo queria que a confissão viesse da moça. Esta, para disfarçar a sua perturbação, voltou-se e falou ao pai acerca de algumas necessidades do jardim.
Daí a cinco minutos a conversação entre Eduardo e Sara continuou.
— Sara...
A moça estremeceu ouvindo este modo de falar.
Depois, erguendo os olhos para Eduardo, pareceu dizer-lhe naturalmente: continue!
— Sara, continuou Eduardo, não posso, não quero, não devo ocultar-lhe por mais tempo o sentimento, que a sua beleza me inspirou. Amo-a muito, muito. Desde que eu tive a ventura de salvá-la das ondas, senti que tinha achado o objeto dos meus sonhos. O ideal da minha imaginação. Para ser completamente feliz, basta que o seu coração responda aos sentimentos do meu; basta, para dizer-me desgraçado, a sua recusa ou a sua indiferença. Diga, Sara, ama-me também?
A moça estava embriagada ouvindo esta linguagem. Houve um silêncio em que ela se deleitava com a música das palavras de Eduardo.
Este repetiu a pergunta.
— Sim, respondeu a moça, sim!
As duas mãos se procuraram. Pararam um instante; tinham os olhos embebidos. Assim se passou algum tempo, até que Silvério os foi chamar.
— Então, que é isso? É o jogo do sério?
Os dois voltaram à vida.
Caindo a noite, regressaram todos para a casa. Eduardo ia despedir-se, quando lhe surgiu, armado de um tabuleiro de xadrez, o tio Silvério. Não havia meio de recusar, não já porque o exigisse a delicadeza, mas ainda porque Silvério era dos tais que, em pedindo qualquer coisa, punha a gente num suplício.
Eduardo viu-se obrigado a aceitar a partida de xadrez.
Para a filha de Almeida era isto uma grande felicidade. A conversa do jardim decidira-lhe o coração. O que podia haver de incerto naquela natureza fraca, indecisa, naquele espírito simples e ingênuo, desaparecia diante dos sentimentos que as palavras de Eduardo despertaram. Até então, a moça sentia alguma coisa que a arrastava para aquele homem, mas nem o dizia, nem mesmo interrogava a si própria a razão do novo estado.
Agora, tinha-se-lhe clareado o horizonte. Era amor, que sentia, e amor daqueles que só as almas elevadas são capazes de sentir. O admirável instinto de mulher dera-lhe o resto do que não pudera interpretar das palavras de Eduardo.
Quando Eduardo declarou aceitar a partida de xadrez a moça sentiu que o coração lhe palpitava com mais força. Ela própria foi dispor o necessário para o jogo, não sem levantar muitas vezes os olhos para Eduardo, cujo olhar, pregado nela, exercia uma como fascinação.
Adivinha-se o resto. Entre a paixão do jogo, dominante em Silvério, e os olhares instantes de Sara, viu Eduardo correr as horas sem arredar pé. O jogo deu-se por terminado à meia-noite. Apenas tinham jogado duas partidas, em que Silvério ganhou sempre. Isto, porque ele não estava apaixonado, e Eduardo, se não o estava, acreditava estar, o que não deixa de produzir algum efeito, como a moléstia imaginária fazia Órgon conservar-se na cama.
Silvério apertou afetuosamente a mão de Eduardo, prometendo-lhe ficar pronto para darlhe a desforra.
À despedida, Sara, em quem já dominava mais o amor que a ingenuidade infantil, colheu no jardim uma flor das roseiras, ao pé das quais tivera a conversa com Eduardo, e ofereceu-a.
Eduardo aceitou, sorrindo a um remoque paternal do velho Almeida, que ainda não calculava o estado do coração de sua filha.
Mas como fosse saindo sem nada dizer, Sara fê-lo parar, e disse-lhe em voz alta, visto não poder ser de outro modo:
— Eu cuidava que me devia retribuir a dádiva com outra... com essa flor que traz aí no peito.
Eduardo olhou a casa do paletó, viu a rosa que lhe fora dada por Maria Luísa. Tirou a flor e deu-lha.
Depois saiu.
Na rua ocorreu-lhe a lembrança que tinha prometido ir tomar chá com Maria Luísa.
Lembrara-se dela algumas vezes em casa de Almeida, mas a promessa do chá varrerase-lhe inteiramente da memória.
V
Nas cenas que até aqui tenho esboçado, tentei mostrar a leviandade e a vaidade de um homem que fazia jogo com as paixões e os sentimentos ingênuos de duas criaturas. Não há inverossimilhança nos fatos, todos concordarão, mas também não há inverossimilhança nos sentimentos de Eduardo, atendendo-se a que era um espírito para o qual nada havia fora do culto da própria personalidade.
Acreditando-se sinceramente apaixonado e não podendo distinguir a natureza do amor e a natureza dos desejos, Eduardo servia de algum modo aquele culto, armava à incredulidade; mas o assombro da novidade, os comentários, a fé que começaria a entrar nos espíritos e que se robusteceria quando ele pudesse passar do estado de solteiro para o de casado, tudo isto eram os aguilhões com o que o seu amor-próprio se sentia brioso e compelido a prosseguir na conquista.
Sara veio complicar as coisas no que dizia respeito ao casamento de Eduardo; e por esse lado afastou-o do alvo a que pretendia chegar; mas se o afastou, não foi senão para dar lugar a nova e maior extravagância, essa do amor por duas mulheres, a donzela e a viúva, na mesma intensidade e no mesmo grau.
Perguntará o leitor como é que um homem de tão bom senso como Pedro Elói parecia tão amigo de Eduardo. A resposta está contida nas duas cartas que eu já li. Pedro Elói, com um olhar de filósofo, via que não era impossível trazer Eduardo ao bom caminho. Os defeitos morais podem levar a conseqüências grandes, mas com a austeridade da lição e da prática são suscetíveis de desaparecer e tornar-se melhor o espírito em que eles existem. Pedro Elói tentava isto de longa data; e, como vemos, era um santo e um filósofo. Tinha conseguido tudo quanto desejara? A este respeito o procedimento de Eduardo desmente a submissão afetada da carta. Que alguma coisa tivesse feito, acredita-se, mas não fez tudo, nem muito. Vejamos agora como continuaram os dois episódios amorosos que Eduardo entretinha com tanto cuidado.
Em casa de Maria Luísa, no dia seguinte, foi Eduardo mal recebido. A viúva mostrava uma frieza e uma indiferença que não eram mais do que os véus com que se cobriam o despeito contido e a dor sufocada.
A promessa não cumprida ligava-se a outras faltas de Eduardo, e para um coração amante, sobretudo para um coração como o de Maria Luísa, não eram essas faltas facilmente desculpáveis.
Maria Luísa sentia naquilo um desdém, um sintoma de resfriamento do amor, e pressentia não sei que más novas para o futuro.
Eduardo explicou-se como pôde. Alegou a doença de um amigo, acrescentando que pouco lhe importaria perder o amigo por amor dela, mas que, instado por dois outros em tom imperativo, tivera de ceder-lhes.
Maria Luísa acreditou ou fingiu acreditar na desculpa. De um ou outro modo, é certo que ainda derramou algumas lágrimas. Não sei que haja alguém que possa resistir às lágrimas de uma mulher. Falo das lágrimas sinceras. É o que há mais poderoso para desarmar a cólera eu comover o egoísmo. É como que um protesto de fraqueza; e resistir-lhe não é de alma nobre, nem de consciência elevada.
As lágrimas tiveram efeito, mas um efeito excepcional; faltavam a Eduardo as qualidades delicadas para apreciar o valor de um lágrima sincera. Era o amor-próprio que se comprazia em ver chorar aqueles olhos e comover-se aquela alma. Seguiram-se protestos descarados, velhos respeitos, sem sentimento nem valor.
Dizia Maria Luísa, enxugando os olhos:
— Vejo que me não ama; vejo que me não compreende.. Ah! se me compreendesse e amasse...
A isto respondeu Eduardo:
— O quê?... Não a amo? Eu?! Não diga isso! mais que a vida... etc.
O leitor conhece o resto.
Enfim, a tempestade serenou. Despertou um sorriso nos lábios de Maria Luísa, como um sinal de aliança. Eduardo mostrou-se satisfeito com o desenlace e disse:
— Vê? A dor de a ver em lágrimas retinha as minhas próprias. A alegria é mais expansiva; agora, que a vejo alegre e me perdoa, sou eu quem chora!
Este rasgo tinha suas dificuldades; a maior era que chorar sem lágrimas não convencia, e Eduardo tinha os olhos secos como os do leitor, que ainda não teve, nesta história, motivo de chorar. Por isso, tirou da algibeira um lenço e levou aos olhos, conservando-se algum tempo nessa posição.
Foi despertado por um pequeno grito de exclamação de Maria Luísa. Tirou, ou antes, foilhe tirado o lenço da mão. Maria Luísa, depois de olhar para o lenço, fitou os olhos em Eduardo, e perguntou-lhe:
— Quem é esta Sara?
Eduardo estremeceu, olhou para o lenço, depois para Maria Luísa, depois para o teto.
— É uma prima.
— Nunca me falou nela, disse Maria Luísa.
— Isso que prova? É de uma prima. Fui ontem visitá-la e trouxe este lenço. Está com ciúmes?
— Não, respondeu a viúva.
E entregou-lhe o lenço.
Como o leitor adivinha, era o lenço de Sara, que marcava a página de Paulo e Virgínia.
Houve um silêncio entre ambos.
Maria Luísa refletia: — É bem possível que o lenço seja da prima; por que não?
Realmente, sou exigente demais. Ele não parece mentir. Por que havia de mentir?
Depois levantou-se e disse sorrindo a Eduardo:
— Vou tocar piano!:
Eduardo levantou-se e foi sentar-se ao pé do piano. Ela começou a preludiar e depois a cantar aquela canção francesa tão conhecida e que parecia adequada à situação.
J’aime, Toi, toi, Toi, le seul bien pour moi!
J’alma que saíam da menina desiludida e infeliz.
Quando acabou, corriam-lhe as lágrimas.
Ao pé dela, Maria Luísa a acompanhava no sentimento e nas lágrimas silenciosas.
As duas infelizes saíram da sala no meio de aplausos comovidos.
VII
Passaram-se quinze dias depois das cenas que acabo de contar.
No dia seguinte ao do baile, Eduardo foi visitar Maria Luísa; encontrou-a na sala com a mãe. Eduardo, como sempre, entrou com o sorriso nos lábios. Maria Luísa estava magra e tinha os olhos pisados. Ia perguntar o motivo daquele abatimento, quando a viúva, dizendo-se incomodada, pediu licença e retirou-se.
Eduardo esteve meia hora na sala conversando com a mãe de Maria Luísa, que lhe respondia por monossílabos. Finalmente, despediu-se e saiu.
Estava humilhado.
— Que aconteceria? perguntava ele. Ontem saíram do baile sem me falarem. Hoje tratam-me deste modo. Que haverá?
De reflexão em reflexão, de recordação em recordação, Eduardo pôde atinar com o motivo do desdém que recebera em casa de Maria Luísa.
Lembrou-se de ter visto a viúva e a donzela saírem do toilette, lívidas e abatidas.
Lembrou-se das lágrimas derramadas durante o canto no piano. Descobriu tudo.
— Que diabo! pensava ele. Como hei de desenlaçar esta meada? Convencê-las é impossível; o melhor é eludir a questão. Mas como? Irei a Sara... Mas terei lá a mesma recepção? Oh! É demais! Não! isso não! Maria Luísa não pode recusar uma carta minha.
É isto. Escrevo-lhe. No papel posso dizer mais facilmente aquilo que convier; tenho a faculdade de rabiscar, alterar, adoçar, enfeitar, como me parecer, as palavras...
Eduardo entrou em casa disposto a escrever três cartas. Uma à mãe da viúva, endereçando-lhe outra para a filha, de cujo amor ela estava ciente. A terceira carta era a Pedro Elói, contando-lhe a ocorrência e pedindo-lhe um conselho. Ao mesmo tempo respondia à carta anterior.
O conteúdo das duas primeiras era uma série de frases ocas, habilmente grupadas, em que Eduardo protestava o mais respeitoso amor por Maria Luísa; quanto ao episódio do baile e ao amor de Sara, foi o mais sucinto que pôde, dando uma desastrada explicação ao sentimento alegado pela filha de Almeida.
Era, dizia ele, um serviço que prestava a uma menina, cujo coração inexperiente se deixara apaixonar por ele. Não queria desenganá-la; entretinha, por sua aquiescência, um amor sem alcance.
Mandou as cartas, mas nenhuma resposta obteve nesse dia nem nos dias seguintes.
Desesperou. Passava muitas vezes em frente da casa de Maria Luísa; mas não via ninguém; as janelas estavam, as mais das vezes, cerradas.
Quanto a Sara, Eduardo com o receio de sofrer a mesma recepção, não foi lá, esperando uma visita do pai ou do tio Silvério. Embalde esperou. Era demasiado o desdém para que um coração vaidoso como o de Eduardo se resignasse. Doía-lhe o desdém, ardiam-lhe desejos de vingança. A vaidade, que até ali se empavesara com o amor das duas mulheres, doía-se, agora, ressentia-se, pedia desforra. Ora, a vaidade quando domina o coração do homem (e na maioria dos homens acontece assim) não deixa atender a nenhum sentimento mais, a nenhuma razão de justiça.
Era, assim, atado a esta fogueira interior, como Eurico atado ao próprio cadáver, que Eduardo passava os dias e as horas, sem ver nem procurar ninguém.
Quanto à carta escrita a Pedro Elói, resume-se em pouco. Ei-la:
Meu amigo, Turba-se o horizonte. Aconteceu o que previas e eu não previa. As duas sabem hoje do meu amor por ambas. Zangaram-se! Era bom se fosse só isso. Creio que adoeceram.
Tamanho desencanto não as podia conservar no estado normal.
E isto tudo por um diabo, como eu. Diabo, sim; não digo brincando; mas um diabo compassivo que ainda as estima e deplora.
Que queres? Sou feito assim. Tenho um coração evangélico; e não posso ver sofrer, e sobretudo sofrer por minha causa.
Foi o caso. Não sei que fatalidade as levou ambas ao baile do conselheiro C... Aí, deramse, comunicaram uma à outra os seus sentimentos e naturalmente foram além do que deviam ir, descobrindo a coroa. A coroa sou eu. E demitiram-se os meus ministros...
Falemos sério; penalizam-me estas ocorrências.
São duas mulheres dignas do respeito e do amor que eu lhes votava. Tenho a culpa de que as adorasse do mesmo modo e no mesmo grau? Se há culpa nisto, é da natureza.
O que é certo é que não me querem receber e curvam-se a uma dor que me lisonjeia, mas que me entristece.
Que devo fazer? Como reconciliar estes dois sentimentos e o meu orgulho? porque enfim eu não quero esquecer, no meio de tais fatalidades, que recebi do berço um dever de zelar a minha própria dignidade.
Aconselha-me e acredita-me Teu Eduardo.
Esta carta, como as outras, não teve resposta.
Vejamos agora o que se passou nas duas mulheres a quem Eduardo bafejara com o hálito da desgraça Maria Luísa chorou muito durante o resto da noite do baile. E quando a manhã rompeu, Maria Luísa estava à janela, chorando ainda em silêncio. Sentia-se duas vezes viúva;
legal e moralmente. Os sonhos do futuro, as esperanças de sua felicidade sem igual, fora tudo um castelo de cartas que desabou ao sopro de uma criança.
Era dia claro. Maria Luísa julgou dever curtir a sua dor e mostrou-se alegre.
Não queria magoar a mãe. Banhou os olhos o mais que pôde e deixou o quarto. Sua mãe a esperava para almoçar. Vendo-a triste, perguntou-lhe se estava doente. Respondeu que se sentia fatigada. A mãe não insistiu. Durante o almoço, a boa velha, para alegrar a filha, e distraí-la dos incômodos que dizia ter, falou-lhe de Eduardo, das comoções que ambos deviam ter tido na noite anterior, dos projetos do futuro.
O assunto não era próprio para alegrar Maria Luísa. Respondendo por monossílabos, e interrompendo a conversa com assuntos diferentes, Maria Luísa procurava desviar o espírito de sua mãe. Enfim, algumas vezes não podia deixar de enxugar furtivamente uma lágrima. A velha reparou e perguntou-lhe por que chorava.
— Por nada, respondeu a viúva.
— Não é possível.
— Por nada, afirmo-lhe.
— Não é possível. Ah! não estás cansada, estás triste; tens alguma coisa que te faz sofrer. Dize o que é... Não sou tua mãe?
— Minha mãe!
E Maria Luísa escondeu o rosto no seio da velha.
— Vamos lá! disse esta. O que é?
— Ah! tenho vergonha...
— Vergonha de quê?
— Eduardo não me ama!
— Ah! — Não me ama, porque ama a outra.
— Quem?
— Sara, aquela que cantou ontem, ao pé de mim, e que a todos comoveu. Ambas nos confessamos.
Maria Luísa repetiu tudo quanto acontecera no baile. A pobre mãe estava comovida, triste, desesperada, ouvindo a narração que Maria Luísa lhe fazia entre lágrimas de desespero e de dor.
Mas, que podia fazer a mãe da pobre moça? Uma só coisa: dar-lhe uma consolação maternal e auxiliá-la em esquecer o ingrato. Quando veio a carta de Eduardo achou ela que devia responder, sobretudo porque nos termos da carta parecia estar provada a inocência de Eduardo. Maria Luísa foi inflexível; disse que não se devia dar resposta alguma. Ah! é que naquele coração, ao lado de um grande amor e de um grande desespero, havia um grande orgulho!
Quanto a Sara, eis o que passara. Não temos necessidade de ir até à casa de Almeida; o tio Silvério nos instruirá de tudo.
Um dia, de tarde, justamente quinze dias depois do baile, Eduardo estava à janela de sua casa quando viu passar o tio de Sara.
Chamou-o e fê-lo subir, apesar dos protestos de ir apressado.
— Ora tinha que ver! disse Eduardo indo receber Silvério. Não vê que o deixava passar sem dar dois dedos de conversa!...
— Mas é que tenho pressa.
— Qual pressa! Sente-se um pouco. Em descansando, ganha novas forças, e ei-lo que aí vai mais lesto ao seu destino.
— Vou para casa, disse Silvério aceitando a cadeira que Eduardo lhe oferecia, e fazendo uma careta à parte como homem contrariado.
— Toda a família está boa?
— Está.
— É o que se quer. Vai então tudo bem?... — Tudo, não é exato...
— Pois há alguém doente?
— Há.
— Quem é?
— Minha sobrinha...
— Deveras?
— É verdade.
— Que doença?
— Eu sei! Adoeceu no dia seguinte ao do baile; veio um médico e a primeira coisa que fez foi obrigá-la a conservar-se de cama.
— Depois?
— Depois, examinou-a e deu não sei que nome, à moléstia, mas afirmou que não era aquela a principal.
— Então há outra?
— Há.
— Qual é?
— Diz o médico que é uma doença moral. Lá levaram tempo imenso a consultá-la. Ela nada disse, isto é, não sei; não sei; não sei; só sei que aquilo é a nossa desgraça, porque, se ela nos morre, é como se nos fosse a vida, a alegria da casa... Adeus, sr. Eduardo, não posso demorar.
Eduardo ouvira estas palavras com certa comoção. Quando Silvério se levantou e se preparava para sair, Eduardo balbuciou algumas palavras. Era um anjo que o inspirava; ia talvez sanar tudo com uma promessa.
Em um instante viu ele que se constituía o remédio supremo para a enfermidade moral de Sara. Mas, enfim, o ente gredin, que, como diz A. Karr, todo o homem tem em si, desfez a obra do ente honesto, Eduardo estendeu a mão a Silvério e pediu que o recomendasse à família.
Silvério desceu cabisbaixo e triste as escadas da casa de Eduardo. Quando se viu só, Eduardo refletiu na situação em que se achava. Das duas mulheres que ele reqüestara tão seriamente e cujas esperanças honestas alimentara com tanta perseverança, uma tinha morta a alma, a outra tinha morta a alma e o corpo. Em seu coração, travou-se uma grande luta, entre o remorso e a vaidade. O dever dizia-lhe que reparasse o maior mal, se não podia reparar todos os males, mas um sentimento de amor-próprio, vão, cruel, imoral, retinha-lhe os sentimentos bons e os impulsos generosos.
Nesta luta, esteve toda a noite. Quis dormir, não pôde; mal fechava os olhos surgia-lhe o espectro de Sara pedindo contas do coração que iludira e da vida que estrangulara.
Enfim, sobre a madrugada pôde conciliar o sono. Eram nove horas, quando se levantou.
Quem olhasse para ele, daí a meia hora, reconheceria que o sentimento do dever triunfara, ao menos momentaneamente.
Eduardo vestiu-se e saiu. Tomou um tílburi e dirigiu-se para a ponte das barcas.
Destinava-se a S. Domingos. Ia decidido a falar à moça, mesmo à custa do seu amorpróprio.
A demora do vapor o contrariou. Tardava-lhe ver-se junto do leito da agonizante para dizer-lhe:
— Vive!
Ora, a agonizante estava realmente agonizante.
Mas quem a visse não suporia que a morte se avizinhava tanto dela. Tinha o rosto e os olhos serenos. Sorria mesmo ao pai, ao irmão e ao tio, mas com o sorriso de quem entrevê as glórias eternas e já as compara às glórias perecíveis desta vida.
O cortinado branco do leito parecia que amparava da luz um ente que chegava ao mundo e não um ente que se ia dele, desgostoso e desiludido.
Em uma pequena mesa ao pé da cama havia um copo d’água, uma cruz de ouro, a do baile, e uma rosa branca seca. Esta rosa era a que Eduardo dera a Sara em troca de outra à porta do jardim. Sara, de tempos em tempos, voltava os olhos para a flor, ficava muda e entrava a contemplá-la. Nessas ocasiões, o pai da doente procurava distraí-la com algum outro objeto, temendo que na contemplação da flor se lhe avivassem as lembranças do amor que a matava.
Foi em uma dessas ocasiões, que Almeida se lembrou de uma notícia e disse a Sara:
— Minha filha, vais ter uma visita.
— Quem é?
— Adivinha...
— Não sei, disse Sara sorrindo.
— D. Maria Luísa.
Este nome fez estremecer Sara. O pai dava-lhe maior sofrimento procurando tirar-lhe outro menor. Com efeito, a flor lembrava a Sara o tempo feliz dos seus amores; o nome de Maria Luísa lembrava-lhe a traição de Eduardo. Reconhecendo o que fizera, Almeida procurou diminuir o efeito.
— Verás como ela soube resignar-se... Espero que o exemplo te sirva, e que das suas palavras colhas uma lição e um conforto, e finalmente que vivas... Ouviste? que vivas!
Sara sorriu-se.
Houve um silêncio.
Depois, passando a mão pela cabeça, pediu água.
Deram-lha.
— Estás melhor, não, Sara? perguntou Almeida. Olha, é preciso, é preciso; fazes anos amanhã. Quero que presidas à mesa... sim?
— Estou melhor, estou, meu pai. Mas, diga-me, como sabe da visita de Maria Luísa ?
— Passei ontem lá e subi. Não sabia ainda que estavas doente. Quando lho disse, ficou muito pesarosa. Depois, disse-me que viria cá fazer-te uma visita.
O resto do dia passou-se sem novidade. Sara não saía daquela serenidade, mas realmente não era para a vida, era para a morte que caminhava.
Enfim, no dia seguinte, isto é, no dia em que Eduardo resolvera ir salvar a moça, aparecem, à porta de Almeida, Maria Luísa com sua mãe.
Sara recebeu a sua rival, ou antes a sua co-mártir, como se fora uma irmã querida, por quem se espera para morrer. Maria Luísa chorou muito; e, por uma inversão dolorosa dos papéis, era Sara quem consolava a viúva.
— Mas é por ti que eu choro, meu anjo! dizia Maria Luísa.
— Por mim?
— Sim, por ti, que não tens coragem, que te quebraste ao primeiro embate da vida...
— Não digas isso... Eu estou boa... Nada tenho... Sofri, é certo; mas passou... Olha, faço hoje anos... Hás de jantar comigo... Vou levantar-me logo... Verás... Verás... Senta-te...
Maria Luísa olhou com olhos rasos de lágrimas para a pobre moça.
— Ainda bem, minha filha, disse Almeida procurando sorrir, ainda bem que te mostras assim. Isso é que eu quero. Não te importes com os males da vida; todos sofrem; mas faze como fazem muitos: fica sobranceira a tudo.
— Dezessete anos! murmurava a viúva... é a aurora da vida...
As duas conversaram largamente. A mãe de Maria Luísa e o pai de Sara deixaram o quarto; as duas podiam folgadamente falar do que as tornara infelizes. Era assim mais fácil a Maria Luísa inspirar a Sara os sentimentos de coragem e sobranceria a que ela própria devera não ter sucumbido. Chegou mesmo a aventurar uma idéia de vingança como satisfação do coração ofendido.
Mas aqueles dois corações, que concordavam em um ponto, não se entendiam naquele.
Sara não era feita para resistir a uma comoção como a que a prostrara. Ouvia sorrindo Maria Luísa, mas abanava a cabeça a tudo. E quando a viúva, para decidi-la mais, lembrava-lhe que poderia sucumbir deveras, Sara respondia que estava perfeitamente boa e não podia inspirar cuidados a ninguém. Esta resistência aos que a chamavam à vida comovia ainda mais. Só havia um meio, talvez, de salvar Sara: era a presença e o amor de Eduardo.
Esta idéia passou rápida pelo espírito de Maria Luísa. A nobre mulher não discutiu consigo nem o ato, nem as conseqüências, nem o seu coração. Adotou o pensamento como se fora inspiração do céu.
Maria Luísa amava realmente Eduardo. Desiludida, sofreu muito, e só deveu ao orgulho e à energia do seu coração não ter, como Sara, sucumbido ao desespero. Mas os grandes sentimentos do seu coração não eram só o do amor e o do ciúme. O ato que ia praticar era de uma alma nobre, educada no culto do dever e do sacrifício. Naquele instante, ela via diante de si uma pobre menina que sofria, e morria por aquele mesmo que a fizera sofrer. Compreendia bem a medida desse sofrimento. A viúva procurou sondar o espírito da enferma:
— Ora, dize-me, se visses Eduardo, o que farias ?
— Se o visse? É impossível.
— Impossível, por quê?
— É impossível.
— Ora, não digas isso. Mas se o visses, se ele viesse agora, hoje, e te dissesse: Vive?
— Não vem e não diz...
— Por quê?
— Por que não me ama.
— Quem sabe?
— Oh! Nem me ama, nem te ama.
— Só por isso?
— E também porque nós o amamos.
— Eu não.
— Não?
— Não.
A moça abanou a cabeça murmurando: inútil.
Maria Luísa procurou meio de escrever a Eduardo; e conseguiu traçar à pressa, em um quarto de papel, as seguintes palavras:
Quer o perdão que me pede? Sara está às portas da morte; venha, diga-lhe que a ama, peça-a e case daqui a um mês. Está perdoado.
Maria Luísa.
O portador que levou este bilhete encontrou Eduardo na ponte das barcas da corte.
Eduardo, ao ler o bilhete da viúva, sentiu-se humilhado. Enganara duas mulheres; uma morria de pesar, outra pedia-lhe que a salvasse, sacrificando-se; entre aquelas nobres almas, a alma de Eduardo sentia-se abatida. Não se deteve mais; tomou a barca, que partiu dali a cinco minutos.
Logo depois de partir o portador do bilhete, entrou o médico na casa da doente. Achou-a muito pior, e disse-o francamente à família.
Que fazer? Tudo o que foi preciso, fez-se. Maria Luísa, ajoelhada diante de um oratório, pedia a Deus duas coisas: que prolongasse a vida de Sara por algumas horas e apressasse a chegada de Eduardo.
Foi inútil. Sobreveio uma crise à enferma, e após a crise o médico desesperou.
Entretanto, Sara, com o sorriso nos lábios e o olhar sereno, dizia alguma palavra em voz já muito fraca, mas com a segurança de quem está certa de ir para uma morada melhor.
Maria Luísa pedia-lhe que vivesse; dizia-lhe que Eduardo não tardaria; o pai a um canto não tinha forças para ver, para pedir, nem chorar; estava atônito.
— Não, dizia ela, ele não vem. E que venha, sei que não me ama, e sem me amar não o quero.
O médico fez vir o sacerdote.
Quando este chegou, Sara, com os olhos fitos, como que vendo já abrir-se-lhe o céu, pediu a Maria Luísa que lhe desse a rosa seca que estava sobre a mesa.
Maria Luísa deu-lha.
— Desejo esta flor, porque me lembra o amor que eu supunha ter achado; é o homem de ontem que eu choro! é por ele que morro; o de hoje não é senão a sepultura do de outrora, que morreu.
Houve um silêncio.
Almeida chegou-se à filha, a fim de prepará-la para a confissão.
Sara estremeceu.
Depois, voltando-se para Almeida, disse:
— Meu pai, abençoe-me. E tu também minha irmã.
Depois, estava no céu.
VIII
Meia hora depois entrava Eduardo à porta de Almeida. Viu tudo fechado; correu-lhe um calafrio por todo o corpo. Será tarde? perguntava ele. Vacilou; entraria ou não? Se entrasse e achasse tudo perdido? Enfim, fazendo um esforço, Eduardo passou o portão que se achava perto. Atravessou a alameda das roseiras, onde pela primeira vez falara de amor à pobre Sara. O remorso começou então a aguilhoá-lo. Aquele silêncio, aquele ar fúnebre, que a casa e o jardim respiravam, incutiam-lhe certo terror. Chegou à porta e bateu.
Veio abri-la o pai de Sara.
— Sara? perguntou ele.
— Sara morreu!
O moço tornou-se lívido. Sentiu uma vertigem; os olhos se lhe escureceram, ia cair.
Segurou-se a uma cadeira.
O pai de Sara olhava fixo para Eduardo. Este não podia suportar-lhe o olhar, e baixava os olhos. Naquele momento, o pai de Sara era o remorso vivo.
Depois de um pequeno silêncio, Almeida falou:
— Era inútil tê-la salvado do mar há quatro meses, para matá-la agora. Se tal devia ser o desenlace destas coisas, melhor fora que a minha pobre filha tivesse sucumbido à primeira vez; iria assim para o outro mundo sem conhecer as misérias deste...
— Oh! basta! interrompeu Eduardo. Sei quanto sou culpado, não aumente a minha angústia com as suas exprobrações, aliás justas.
O velho sorriu-se tristemente, como quem ouvia duvidoso as palavras do outro.
Depois:
— Vem dar-me os pêsames, não é? continuou ele; muito obrigado.
E foi sentar se no sofá, derramando silenciosas lágrimas.
Eduardo esteve alguns momentos contemplando aquela dor muda e respeitável. Depois, dirigiu os olhos para a porta do quarto mortuário. Ouviu que partiam de dentro soluços abafados. Dirigiu-se para a porta.
Maria Luísa ajoelhada aos pés da cama, contemplava, chorando, o cadáver de Sara. A
morta parecia sorrir ainda: dissera-se que sonhava um sonho cor-de-rosa.
Eduardo sentiu rebentarem-lhe dos olhos as lágrimas. Ajoelhou-se silenciosamente ao pé da porta e olhou para Maria Luísa.
Não lhe viu o rosto, mas conheceu-a.
Durou muitos minutos esta cena muda. Finalmente, Eduardo levantou-se e dirigiu-se para o leito da finada. Aí, com os olhos rasos de lágrimas, disse para o cadáver:
— Perdoa-me! Adeus!
E saiu da casa, louco, desesperado.
IX
Eduardo andou muitas horas sem saber de si. Acompanhava-o o espectro de Sara.
Ouvia-lhe as palavras; parecia vê-la morrer, esperando embalde por ele.
De um triste jogo, em que a sua vaidade entrara por muito, resultaram tão funestas conseqüências. Sua dor era sincera; seu terror verdadeiro. Até ali, de seus caprichos dom-juanescos só resultaram, quando muito, desgostos passageiros que o tempo ou outras circunstâncias atenuavam e faziam desaparecer. Mas no dia em que se deitara a amar deveras, ou antes, no dia em que desejou amar, as vítimas do seu capricho sucumbiram. Via-se autor de uma morte; e os espíritos da ordem de Eduardo podem cometer todas as ações covardes, mas não resistem a um espetáculo destes. Fazer perder-se uma donzela ou separar um casal, é uma façanha mais ou menos celebrada, mais ou menos aceita; mas impelir para a sepultura um ente a quem se enganou, eis o que faz estremecer os audazes. Eduardo, preso de remorso, apreciava toda a extensão do abismo em que caíra.
Os sentimentos vivos da dor e do remorso, as idéias tumultuárias e cruéis, encheram por longo tempo o espírito e o coração de Eduardo. Ora parecia-lhe dever fugir à vida e ir alcançar a donzela no caminho da eternidade, para pedir-lhe perdão. Ora julgava que devia ficar neste mundo, para purgar em longo sofrimento o crime que cometera.
Nesta incerteza, neste suplício moral, andou até que se achou diante do mar. Sentou-se pensativo em uma pedra. Era quase noite. Muita gente que o viu supô-lo doido.
Estava ali, havia já alguns longos minutos, quando um homem parou e procurou descobrir-lhe as feições. Eduardo tinha o rosto fechado nas mãos. Depois de alguns instantes o homem exclamou:
— Eduardo!
— Que é? disse o moço, estremecendo.
Voltou e reconheceu o interlocutor;
— Pedro Elói!
Eduardo caiu-lhe nos braços.
Depois de alguns momentos, Pedro Elói perguntou;
— Que há?
— Sara morreu!
— A donzela?
— Sim!
— Desgraçado! É obra tua!
— Ah! não aumentes a minha dor e o meu terror; bem sei o que fiz; vejo a enormidade do meu crime.
E o moço derramava sinceras lágrimas.
Pedro Elói continuou:
— Se tivesses atendido aos meus conselhos, tinhas poupado este desgosto e este remorso. Bem te dizia eu que não iriam a bons resultados as tuas paixões simuladas. Não quiseste crer, ou antes a tua vaidade recusou-se a crer. Enfim, vê se eu tinha razão!
Houve um silêncio entre ambos.
— Está acabado tudo; agora só resta uma coisa; é seres o carrasco de ti mesmo, como aquele pai do teatro latino. Eia! se alguma coisa pode agora levantar-te aos olhos do mundo e aos teus é a volta aos deveres morais. Sirva-te a morte de Sara, tua vítima, como ponto de partida para a tua regeneração.
E dizendo isto, Pedro Elói arrastou Eduardo.
Pedro Elói, recebendo em Petrópolis a carta de Eduardo, receou pelos resultados dos acontecimentos narrados nesta carta. Logo que pôde pôs-se a caminho para ver se ainda podia fazer alguma coisa. Chegando à cidade foi procurar Eduardo; disseram lhe que partira para S. Domingos.
Como saberia ele a casa de Sara? Ninguém podia dizer-lhe em casa de Eduardo. Apesar de tudo, tomou o caminho da barca de S. Domingos e dirigiu-se para lá. Foi quando encontrou Eduardo.
No sétimo dia ao da morte de Sara, Pedro Elói conseguiu levar Eduardo para Petrópolis.
Eduardo não quis deixar de ir orar pela vítima, a um canto da igreja, na missa do sétimo dia. Todos viram o moço ajoelhado, com o resto coberto; foi o primeiro que entrou e o último que saiu.
X
A obra de Pedro Elói teve feliz resultado. Eduardo converteu-se ao dever, depois de um longo suplício.
Maria Luísa, cuja alma também morrera, refugiou-se no mais completo isolamento.
Quanto à família de Sara, nunca mais teve um momento das alegrias puras que a presença da querida menina lhe dava.
Eduardo, inteiramente outro do homem que fora antes, pôde desligar-se da companhia do amigo Pedro Elói sem perigo para si.
De oito em oito dias fazia uma peregrinação ao cemitério de Maruí, onde repousavam os restos daquela que o amara até à morte.
Impôs-se esta visita, não só como dever, mas até para ter sempre à memória a tragédia doméstica em que fora protagonista.
De quando em quando, os dois amigos visitavam-se, mas comunicavam-se sempre por cartas, em que um mostrava toda a sua satisfação em ter convertido um homem e o outro a maior saudade do bem que pudera ter e a esperança de que a sua conversão teria em paga na eternidade a vista eterna da alma bem-aventurada de Sara.
CONCLUSÃO
Depois de contar esta história, o leitor e eu tomamos a nossa última gota de chá ou café, e deitamos ao ar a nossa última fumaça do charuto.
Vem rompendo a aurora e esta vista desfaz as idéias, porventura melancólicas, que a minha narrativa tenha feito nascer.
Edição referência: http://www2.uol.com.br/machadodeassis
Publicado originalmente em Jornal das Famílias 1864
O que você achou desse texto?
Comente abaixo e participe!